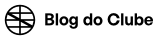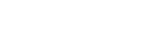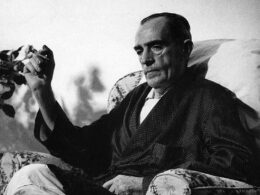De volta ao Brasil rodriguiano
Por Ana Júlia Galvan1
Anos atrás, mergulhei na obra de Nelson Rodrigues e li tudo o que pude encontrar à época: li vários dos seus livros de crônicas, todas as suas peças e até um dos livros publicados sob o pseudônimo de Suzana Flag. Desde então, a opinião que eu tinha era a de que as peças ficavam muito aquém do seu trabalho como cronista — opinião essa que mantive até há pouco, quando, lendo A Vida Como Ela É…, resolvi voltar às peças do autor. Desconfiava que essa opinião que carreguei por tanto tempo fundamentava-se mais em lacunas minhas — na minha imaturidade à época e na falta de jeito com peças de teatro — do que qualquer outra coisa.
Comecei a retomada pelas “tragédias cariocas”, que, pela minha lembrança, eram as de que mais tinha gostado. Ainda não as reli todas, é verdade — inicialmente, não tinha a intenção de fazer deste retorno um projeto de releitura total; porém, tendo retomado três das suas peças, estou convencida de que a minha suspeita estava correta. Santa desconfiança! Estou, de fato, admirada com essa redescoberta reveladora do Brasil rodriguiano — e pretendo esboçar aqui algumas das minhas (novas) impressões.
*
Via de regra, os personagens de Nelson agem em função do próprio umbigo, motivados pela carne ou por desejos baixos e mesquinhos. É o caso da dupla Amado Ribeiro e Delegado Cunha, de O Beijo no Asfalto (1960), que cria uma campanha difamatória em cima de um pequeno ato de compaixão; o de Zulmira, de A Falecida (1953), que projeta uma rivalidade sobre a prima, Glorinha, que nem sequer aparece na peça; e de Patrício, irmão do viúvo Herculano em Toda Nudez Será Castigada (1965), que, preocupado que este vá cometer uma loucura enlutada, joga-o nos braços de Geni para que viúvo não o deixe de bancar. (Mais não conto, pois, nas peças de Nelson, os enredos são enxutos e cada detalhe importa.)
*
Para muitas das personagens rodriguianas, a verdade não interessa: o que interessa são as emoções, as histórias que são contadas — para si mesmas e para os parentes, os vizinhos, os colegas de trabalho, os conhecidos; as histórias que cairão na boca do povo, em suma. Todo o mundo inventa um pouco a cada história e, mesmo sabendo que a deturpam de algum modo (pois como não o saberiam, se contradizem a sua própria experiência?), seguem-na contando como se a mentira fosse verdade absoluta e indiscutível, sobre a qual atestam e dão fé. Além disso, vivem em função da sua reputação e da sua imagem pública, sem que isso, entretanto, os conduza ao exame de consciência ou à melhoria de seu comportamento na vida privada. As ações dessas personagens raramente são ponderadas pelo seu peso moral ou medidas pelas suas possíveis consequências. Assim, elas exageram, contam causos sensacionalistas, falsificam os fatos, forçam a barra com vistas à vantagem própria e manipulam a realidade das coisas — e é como se todos acreditassem mais em narrativas fabricadas do que naquilo que os próprios olhos enxergam (às vezes literalmente).
Os escassos e diminutos atos redentores nas peças de Nelson Rodrigues não raro recebem como resposta a ridicularização, a fofoca, a humilhação. Isso fica bastante evidente em O Beijo No Asfalto. Testemunhando um atropelamento, Arandir age rápido por um ímpeto compassivo: ajoelha-se ao lado do atropelado que, moribundo, pede-lhe um beijo. O beijo é concedido — e ali, no meio da rua, acabam-se a vida do acidentado e do outro: o breve ato de pura compaixão será usado pelo jornalista Amado Ribeiro como “prova” contra Arandir. Amado não tem nada contra Arandir; o seu intuito é pessoal: quer vender muitos jornais, “sacudir a cidade” — e, para isso, arrasa com a vida do outro, criando fatos e confabulando uma narrativa em que todos, inclusive a fiel e amada esposa do difamado, acreditam, a despeito da própria experiência.
*
Ainda mais marcadamente que nas crônicas, nas peças de Nelson a esculhambação e o deboche são de praxe. As histórias falam de acontecimentos que, de início, parecem-nos muito absurdos, mas que, se pensarmos bem, não nos são assim tão extraordinários. Nelson cria essas situações a partir de personagens falhos — em suas obras, não há bandido ou mocinho, pois tudo se mistura e se enreda. As situações são absurdas, sim, mas são apenas o resultado de vidas que se guiam costumeiramente por motivos pessoais, baixos e imediatos. O estopim desses eventos — e a sua complicação — é sempre a ação de personagens degradados, em cujos corações o bem e o mal estão presentes e em batalha perpétua — a vontade de ser bom e puro é sempre justaposta às tentações e às paixões mundanas.
Seus personagens são sujeitos ordinários que nem sempre têm lá as melhores motivações para agir desta ou daquela forma. O autor, porém, vai além: não só trata do pecado, do mal, da malícia como algo presente universalmente em todos os seres humanos, como também leva ao palco a própria arquibancada, isto é, o Brasil de seu tempo. Nisso é magistral, pois toma emprestados do abstrato plano dos temas universais esses desvios da reta conduta e os aplica a um retrato quase caricatural de tipos brasileiros, tornando muito mais concretas e palpáveis a nós as fraquezas e as quedas de suas personagens. Vemos como esses “pecados” pesam sobre as almas de figuras perfeitamente reconhecíveis, que vivem em contextos muitos similares aos nossos, que falam dos mesmos assuntos que nós, que têm os mesmos medos e desejos, pois a sua circunstância assenta-se no mesmo Brasil. Aí está uma das chaves de compreensão das obras de Nelson: apesar de seus enredos serem exagerados e até estapafúrdios na superfície, no fundo, no fundo, reconhecemos neles algo de muito familiar — algo de muito especificamente brasileiro. Querendo ou não, o deboche e a esculhambação também são marcas nossas.
*
Apesar do deboche e da esculhambação inatos, Nelson não condena as suas personagens, e chega até a apresentá-las de maneira terna — parece crer realmente na possibilidade da redenção humana, independentemente dos pecados cometidos, das numerosas quedas e da insistência no erro, contanto que haja ao menos um único momento genuíno de pureza de intenção (e ainda que esse momento torne-se mal-afamado entre os patrícios e faça o sujeito cair em desgraça socialmente).
A tudo isso, soma-se a maestria literária de Nelson: a construção dos conflitos é ligeira e econômica, indo direto ao ponto; vamos conhecendo as personagens conforme elas se nos apresentam, sem pressa, mas também sem demora, e sem explicações à toa. Tudo tem o seu momento e o seu lugar.
Outro aspecto muito aprazível da leitura das peças do Nelson são as suas direções de cena, que costumam ser bastante específicas e literárias. Muitas vezes, são pouco objetivas para quem queira segui-las à risca — o que seria, por exemplo, “um cafajeste dionisíaco”? Se o leitor me perguntasse, eu não saberia dizer. No entanto, há uma imagem ali, e uma imagem poderosa, que fala mais do que qualquer explicação; e é isso que torna as suas direções de cena tão boas. (O diretor e o ator que se virem para representá-las no palco!)
*
Depois desse breve mergulho, as demais leituras da fila que fiquem para depois: não posso fingir que não quero reler todo o teatro de Nelson. Agora com mais maturidade, mais experiência de vida e mais repertório, consigo enxergar ali muito das relações humanas tais quais eu as conheço — e apesar de ser duro ver “a vida como ela é”, há poucas experiências mais enriquecedoras que se reconhecer através da obra de um mestre como Nelson Rodrigues.
- Ana Júlia Galvan é escritora, tradutora literária (do inglês e do francês) e estudante das artes. É formada em Cinema e Realização Audiovisual pela Universidade do Sul de Santa Catarina e mestre em Estudos da Tradução pela University of Ottawa. Escreve sobre arte, cultura e coisas da vida no Periódico da Ana (newsletter) e tem “conversas interessantes com pessoas interessadas” sobre obras de arte no Entremeios (canal no YouTube). Natural de Santa Catarina, mora no Canadá desde 2017. ↩︎