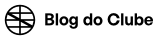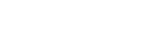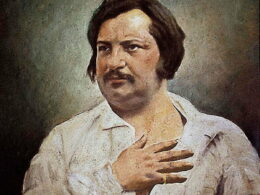Por Gabriel Andrade Adelino1
I. O mito de Stevenson2
Robert Louis Stevenson ocupa um lugar curioso na história da literatura. Há quem se refira a ele como um escritor de aventuras, um contador de histórias que escrevia com agilidade e brilho, mas que teria deixado pouca substância duradoura. Outros, ao contrário, o cercaram com uma espécie de devoção sentimental, como se cada linha que ele tivesse escrito fosse uma pequena revelação moral. Entre esses dois extremos, formou-se um ruído que muitas vezes esconde aquilo que Stevenson de fato realizou.
A verdade é que houve, por muitos anos, uma insistência exagerada em torno da figura de Stevenson, de seus hábitos, de sua aparência, de suas viagens, de suas cartas, de suas doenças e de seus amigos. Um excesso de biografia e admiração que terminou por reduzir o autor a uma caricatura de si mesmo, repetida em livros de memórias e histórias pessoais que se multiplicaram sem controle.
Com o tempo, esse entusiasmo se transformou em tédio. Quando a imagem de um autor se torna exageradamente romântica, quase folclórica, ela acaba provocando uma reação contrária. No início do século XX, alguns passaram a considerá-lo superficial, exagerado, até mesmo um tanto vaidoso. Houve quem escrevesse longos artigos apenas para demonstrar que ele teria sido superestimado.
Essa tentativa de desacreditá-lo, então um movimento recente, baseava-se num mal-entendido antigo. A vida de Stevenson foi de fato incomum, e teve momentos que parecem retirados de um romance de aventuras. Mas transformar esses momentos em argumento contra a sua literatura é não compreender o que há de essencial nela.
Onde tudo começou
Stevenson nasceu em Edimburgo, em 1850, numa família respeitável de engenheiros especializados na construção de faróis. Desde cedo, teve saúde frágil. Sofria de doenças respiratórias, o que o obrigava a buscar climas mais amenos, e isso fez com que passasse boa parte da vida viajando.
Morou na França, na Suíça, nos Estados Unidos, percorreu o interior da Inglaterra, viveu entre as ilhas do Pacífico e terminou seus dias em Samoa, onde foi enterrado aos 44 anos. Essas viagens, que à primeira vista parecem fruto de um espírito aventureiro, foram na verdade consequência de uma condição física delicada.
Durante essas mudanças de endereço, Stevenson manteve uma disposição incomum para observar o mundo. Mesmo quando viajava por recomendação médica, ele conseguia encontrar em cada lugar um motivo literário. Às vezes era um tipo curioso, um costume local, uma conversa no caminho, uma expressão nova, uma ideia para um conto. Nunca se entregava ao tédio de estar doente. Transformava suas condições em matéria de escrita.
A questão
Ao tentar compreender Stevenson, portanto, talvez seja mais útil olhar com atenção para sua vida e experiências, em vez de sua formação intelectual, e como essas experiências resultaram em suas obras. Porque ele foi um daqueles autores em que a ficção expressa mais verdade do que as memórias. Os personagens que criou, os conflitos que imaginou, os temas que retomou em vários contos e romances, tudo isso revela com mais nitidez o tipo de experiência que ele viveu.
A luta entre o bem e o mal, o fascínio por uma liberdade perigosa e a necessidade de alguma forma de contenção moral aparecem em suas histórias como reflexos de um problema que era também pessoal, embora não se resumisse a ele.
A imagem que muitas vezes se fez de Stevenson — o homem magro, de roupas claras, vivendo entre coqueiros e ditando páginas a sua esposa em meio ao clima tropical — é apenas uma parte da história. É a parte visível e charmosa. Mas o que importa mesmo está nos livros que ele escreveu, que por sua vez são produto de sua vida pessoal. São eles que revelam o pensamento de um homem que nunca se deixou enganar pela própria fantasia, que via no prazer da narrativa uma maneira de dar forma ao que permanece confuso.
II. O mundo de Skelt
Entre os muitos equívocos que se formaram em torno do nome de Stevenson, talvez nenhum seja mais recorrente do que a associação com Edgar Allan Poe. Essa comparação, que à primeira vista parece surgir da semelhança superficial entre dois escritores que exploraram atmosferas de mistério, revela, ao ser examinada com mais cuidado, uma distância de concepção fundamental da imaginação literária.
Poe construiu um universo fechado, saturado por uma densidade que oprime os leitores; as imagens que povoam seus contos e poemas emergem de um pântano estético onde tudo se dissolve em penumbra e névoas. Já em Stevenson, o mundo imaginado possui limites claros, formas recortadas com precisão, como se cada cena fosse composta à luz do dia, diante de um céu aberto.
Tudo graças a um brinquedo
Esse estilo tem raízes em sua infância. Muito antes de dominar o ofício da escrita, Stevenson já era um montador de pequenas peças dramáticas encenadas em seu quarto, com personagens de papel recortado e cenários improvisados a partir dos kits do “teatro de Skelt”3, um brinquedo popular em sua época. A experiência de infância marca o ponto de partida de uma imaginação que viria a se especializar em criar cenas de ação e narrativas que avançam como coreografias em miniatura. O brinquedo ensinou-lhe algo que se tornaria um princípio de estilo: a força expressiva nasce da forma bem delineada.
Quando se observa o conjunto de sua obra, percebe-se que esse impulso infantil foi se refinando com o tempo. As aventuras marítimas, os confrontos em florestas escocesas, os duelos gelados sob a luz das velas, todos esses episódios carregam uma clareza quase plástica, em que as cores são vivas e os objetos adquirem uma presença quase tátil. Stevenson compõe suas histórias como quem recompõe as imagens mais antigas que guardou da infância.
Essa continuidade entre infância e maturidade não é, em seu caso, um mito romântico. Ele não foi um adulto nostálgico tentando reviver um mundo perdido, apenas um escritor que transformou os impulsos mais autênticos da infância em matéria literária. Mesmo ao tratar de temas sombrios, Stevenson preferia organizar o caos numa espécie de arquitetura dramática, onde o mal não se confunde com o vago, mas se manifesta com clareza, nome e rosto.
Essa inclinação para o concreto e visível não o afastava da complexidade moral, no entanto. Pelo contrário, dava-lhe os meios para representá-la com maior exatidão. O conflito, em Stevenson, quase sempre se desenrola diante de nossos olhos como num palco bem iluminado, e nada é amortecido por confusões psicológicas ou ambivalências excessivas. Ele parecia entender que a atmosfera de mistério se cria com o desenvolvimento claro de uma cena cuja tensão moral é visível. Essa clareza formal, herdada do teatro de brinquedo, serviu-lhe como instrumento para tratar dos temas mais sérios, e talvez por isso mesmo sua literatura pareça, a alguns, menos “profunda” do que aquela que se recobre de sombra, como as de Poe.
III. Juventude e Edimburgo
Quando Stevenson saiu da infância e começou a viver os primeiros anos da juventude, encontrou um ambiente muito distinto daquele que havia conhecido dentro de casa, onde a regularidade cotidiana lhe ofereciam um mundo ordenado, moldado pela disciplina familiar. Esse novo ambiente, que aparece de forma ainda disfarçada em contos como As Desventuras de John Nicholson4, era composto por figuras humanas dispersas, situações cômicas sem leveza e episódios marcados mais por um desconforto moral do que por qualquer entusiasmo juvenil, como se as primeiras experiências de autonomia se tivessem dado em meio a uma cidade que expunha, com certa crueza, suas contradições sociais e afetivas.
O choque cultural
O jovem Stevenson, que cresceu em um espaço protegido pela imaginação e pela autoridade dos pais, passou a circular por uma Edimburgo marcada por comportamentos ríspidos, prazeres esvaziados de sentido e uma atmosfera que combinava contenção religiosa com impulsos que, embora liberados, não encontravam qualquer traço de contentamento real.
Os episódios que viveu nesse período foram registrados de maneira indireta, muitas vezes sob a forma de narrativas ficcionais em que a figura do jovem perdido ou inábil serve para retratar uma relação mal resolvida com a cidade e seus códigos morais. Edimburgo oferecia ao mesmo tempo uma herança teológica severa, já enfraquecida, e uma vida urbana prática e sem sofisticação, em que o prazer era tolerado, mas não valorizado, e o erro era tratado com um tipo de vergonha que pouco contribuía para o amadurecimento ético de seus habitantes. Era uma cidade que havia deixado para trás a gravidade intelectual dos reformadores, sem com isso ter desenvolvido uma forma renovada de convivência entre desejo e responsabilidade.
Stevenson cresceu em um ambiente familiar que, embora vinculado ao presbiterianismo, oferecia espaço para a leitura e o exercício da imaginação. Esse repertório simbólico, herdado da infância, não encontrou continuidade nos espaços públicos da juventude, nem foi sustentado por uma tradição religiosa capaz de transpor a fantasia infantil para uma ética adulta.
O calvinismo escocês5 falava com severidade sobre dever e pecado, mas sem cultivar imagens positivas da pureza, da alegria ou do encantamento, deixando a transição entre o mundo protegido da infância e as exigências da vida madura sem qualquer apoio simbólico ou ritual de passagem. A linguagem religiosa presente em sua formação não favorecia a interiorização de ideais luminosos, antes operava por silêncio e contenção, tratando a inocência como uma ausência de desejo e não como uma plenitude natural a ser cultivada.
Nasce um clássico
Nesse contexto, Stevenson começou então a elaborar, ainda sem plena consciência, o tema da duplicidade, que mais tarde se tornaria central em sua obra. Foi desse ambiente, ao mesmo tempo permissivo e opressor, que emergiu a figura de Mr. Hyde, e foi nas memórias dessa cidade dividida que se estruturou o cenário de O Médico e o Monstro, mesmo que a história se passe oficialmente em Londres.
A paisagem descrita na narrativa, com suas ruas silenciosas e sua atmosfera carregada de tensão moral, corresponde à Edimburgo da juventude de Stevenson, onde o medo do escândalo moldava comportamentos e onde a reputação social operava como um princípio absoluto. A tentativa do Dr. Jekyll de separar sua vida pública de seus impulsos interiores se apoia numa lógica herdada desse contexto, em que a identidade social é mantida por meio de repressões internas constantes e em que o erro, mesmo sem testemunhas, compromete de maneira irremediável o valor do sujeito.
Hyde, como personagem, representa uma forma deformada e ressentida de prazer, marcada mais pela brutalidade que pela tentação, como se encarnasse a falência de uma ética que não soube acolher os desejos naturais do ser humano dentro de filosofias mais sólidas.
O que sustenta a narrativa é a constatação de que a divisão moral proposta por Jekyll não é viável. Ao criar uma figura separada para abrigar seus impulsos, o personagem inicia um processo que escapa ao seu controle e que o leva, progressivamente, à dissolução da própria consciência. O dilema que a história apresenta não é a coexistência de dois seres distintos, e sim a continuidade inquebrantável entre eles. Jekyll e Hyde não compartilham o mesmo corpo por acaso, ambos são expressões de uma mesma identidade que tentou, sem êxito, se separar em partes puras.
A experiência conduzida pelo médico, apresentada como um experimento científico, revela-se uma tentativa desesperada de eliminar o conflito interno por meios técnicos, o que resulta na ruína de ambos os lados. A obra descreve com clareza o fracasso de uma separação ilusória entre as forças morais que compõem o indivíduo.
IV. A reação romântica
A aparência de Stevenson sempre causou comentários, como se o chapéu esquisito e o sobretudo amassado revelassem alguma verdade essencial sobre sua alma. Aos olhos de muitos, ele parecia apenas um excêntrico, um homem encantado com o próprio reflexo, alguém que fazia da pose um modo de vida. Mas o que se deixou de perceber, ou talvez se tenha esquecido com o tempo, é que Stevenson viveu entre artistas que cultivavam deliberadamente esse tipo de aparência.
A extravagância fazia parte do jogo; longos cabelos, roupas orientais, bengalas simbólicas, tudo isso circulava pelos cafés do Quartier Latin6 como elementos de uma linguagem comum. Naquele ambiente, o traje chamativo era quase como um ritual coletivo, que produzia, junto com figuras muito excêntricas esteticamente falando, filosofias e teorias tão esquisitas quanto às roupas que vestiam.
Sejamos como crianças
A sua resposta a esse ambiente foi inesperada: voltou-se ao mundo dos brinquedos. Naquele momento, tudo isso era mais vivo do que a arte respeitável que se produzia nas escolas de belas-artes. Para ele, as histórias de piratas tinham mais densidade do que os tratados de moral dos ditos intelectuais. O pequeno teatro de Skelt, onde figuras de papel duelavam em miniatura, oferecia mais realidade do que as teorias desesperadas que se repetiam nos cafés.
Essa reação pode parecer frágil ou mesmo infantil, mas continha um princípio curioso. Era uma recusa ativa do vazio niilista que crescia entre as conversas da classe de intelectuais. Ao invés de repetir que o mundo era uma sombra projetada por uma lanterna nas mãos de um mestre invisível, Stevenson decidia acreditar que aquelas sombras tinham cor, tinham peso e tinham graça. Se éramos todos marionetes, que ao menos fôssemos marionetes alegres, capazes de rir e viver com dignidade. E nessa ideia está algo que a crítica muitas vezes ignorou, que a aventura não era só um gênero literário, como uma forma de resistir à opressão da realidade. Diante da cultura que cultuava a doença e a morte, ele empunhava seu sabre de brinquedo, com tinta azul de escola primária, e dizia: isso também é arte.
Seus contemporâneos, quando queriam romper com a tradição, olhavam para Balzac, para Flaubert, para os realistas. Stevenson, ao contrário, olhou para Marryat7, para os romances de capa e espada, para a linguagem esquecida dos panfletos que circulavam entre os garotos. Onde se esperava uma literatura de análise psicológica, ele oferecia mapas do tesouro. Onde se esperava decadência, oferecia luta. A combinação de estilo refinado com histórias de marinheiros parecia absurda à época. Um escritor da geração de Pater ou Meredith8 dedicando-se aos mistérios de uma ilha perdida soava, para a elite intelectual da época, como uma narrativa inaceitável. Mas era exatamente isso que o tornava singular. Contra o niilismo, Stevenson propunha a coragem; e contra o tédio, a fábula.
Epílogo
Mesmo que a literatura venha a esquecer Stevenson, mesmo que o romance se dissolva em descrições psicológicas ou teorias da consciência, ainda haverá, em algum momento, um retorno à narrativa pura e simples. Gosto de pensar que sempre haverá um leitor exausto de abstracionismos e que abrirá O médico e o monstro como quem encontra um fóssil numa rocha, um traço nítido e interessante de forma humana numa paisagem rudimentar.
Nesse sentido, sua obra é uma tentativa de recomeçar o pensamento a partir da imaginação. A lanterninha mágica da qual ele fala, com suas figuras projetadas na parede, tem algo de sagrado. O mundo podia estar à beira do colapso, mas as cores da infância continuavam visíveis. E, se elas ainda podiam despertar alegria, então havia alguma verdade nelas. Os realistas que desdenhavam dessas histórias não percebiam que estavam ignorando um fato essencial da experiência humana, o de que a felicidade também é um dado, e talvez o mais fundamental de todos.
- Gabriel é redator, publicitário e roteirista. ↩︎
- Este ensaio baseia-se no livro Robert Louis Stevenson (1901), de G. K. Chesterton, publicado na série English Men of Letters. A interpretação original foi aqui reelaborada em linguagem pessoal.
↩︎ - O “teatro de Skelt” era um brinquedo vitoriano composto por figuras de papel, cenários e roteiros simplificados, com os quais as crianças montavam peças teatrais em miniatura. Stevenson o menciona como influência decisiva em sua formação.
↩︎ - The Misadventures of John Nicholson (1887) é um conto publicado postumamente em 1898, que retrata um jovem escocês lidando com erros do passado e pressões familiares. A narrativa espelha o ambiente social e moral de Edimburgo.
↩︎ - O calvinismo escocês é uma vertente protestante marcada pela disciplina moral, pelo temor ao pecado e pela doutrina da predestinação. Mesmo em declínio no século XIX, seguia influenciando costumes e valores na Escócia.
↩︎ - O Quartier Latin é um bairro tradicional de Paris, conhecido no século XIX como centro da vida boêmia e estudantil. Artistas e intelectuais frequentavam seus cafés, e o vestuário excêntrico era parte do ambiente.
↩︎ - Frederick Marryat (1792–1848) foi oficial da marinha britânica e autor de romances de aventura naval. Suas histórias influenciaram fortemente a literatura juvenil do século XIX, inclusive a de Stevenson.
↩︎ - Walter Pater (1839–1894) e George Meredith (1828–1909) foram escritores vitorianos associados a uma prosa refinada e temas psicológicos. Representavam uma literatura mais introspectiva, em contraste com o estilo direto de Stevenson.
↩︎