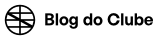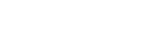Por Fábio Gonçalves1
Vimos no segundo artigo da série que o mundo grego-romano, além de legar-nos uma ideia muito clara da importância do ensino da linguagem na formação humana, deixou-nos também, já testado e aprovado, um método para a realização desse mesmo ensino.
No entanto, no outono da antiguidade clássica, a nascente cristandade europeia deparou-se com a seguinte tensão: precisava recorrer ao método para as suas finalidades evangélicas, mas ele era todo baseado em obras do velho paganismo do qual o cristão queria se afastar.
Vejamos como o problema foi solucionado.
O cristianismo e a educação pagã
Nessa transição do mundo romano para o medieval houve um período de estranhamento, de perdas e de rearranjos. E por dois motivos: primeiro pela destruição material causada pelas invasões bárbaras, inviabilizando a vida urbana em uma série de localidades, empurrando contingentes populacionais para o campo, cenário onde se travará quase todo o drama da Idade Média; depois por uma relutância cristã na adoção da velha pedagogia, relutância justa em vários aspectos.
O cristianismo surge dentro do mundo cultural helenístico. Boa parte do Novo Testamento foi escrito em grego koiné, língua daquela civilização. Nas cidades importantes daquele mundo, revirado por uma sequência arrasadora de conquistas imperiais, os filósofos pagãos ofereciam, eles próprios, como que soluções religiosas, caminhos para a salvação, para a plenitude humana. Havia uma rivalidade, uma disputa por almas e corações.
Ademais, o cristão, calcado no Evangelho, desenvolvera outros critérios de moralidade, de escrúpulos. O mundo pagão era mais liberal, mais folgado, e a literatura, as artes plásticas, o teatro, tudo deixava vazar essa luxúria mediterrânica.
Esses fatos deram ensejo a certas posições radicalmente contrárias ao contato do convertido com a cultura clássica. Exemplifica essa postura o apologista Tertuliano, que condenava como uma indignidade o homem cristão lecionar em escolas pagãs.
É preciso ter em mente que a formação oferecida era a da leitura e interpretação dos poetas, e os poetas falavam em deuses — e deuses de comportamento erradio —, em heróis semidivinos, em monstros impossíveis, em mortes cruentas.
O que ganharia um cristão, cuja vida deveria se orientar ao único propósito do Eterno, lendo umas tais invencionices entremeadas de imoralidades? Qual seria a vantagem de bebericar desse veneno, como alguns chamavam, se havia água pura, jorrando de fonte cristalina, nas Sagradas Escrituras?
Essas questões se impuseram e, enquanto não foram plenamente respondidas, ficou uma suspicácia, um olhar enviesado.
Mas, conforme adverte Marrou, havia um paradoxo: a religião cristã é naturalmente livresca. É, por isso, desejável que o crente seja letrado. Tanto mais o crente que, cercado por maliciosos e hereges, precisava estar sempre apto a defender sua fé de modo claro e eloquente.
Impunha-se, portanto, que o jovem cristão tivesse a boa e velha formação clássica, helenística, de excelência na linguagem, de erudição, de alto desenvolvimento retórico e dialético. E, mesmo ficando a Igreja com o pé atrás, esse jovem foi à escola dos ímpios.
Grande símbolo dessa tentativa de se beneficiar da cultura pagã para fazer vicejar e florescer o credo católico foi Santo Agostinho.2
O Bispo de Hipona, que teve conversão tardia, era versado nas letras e nas ciências antigas, conhecedor profundo das filosofias grega, helenística e romana. Ele tinha experimentado de tudo que havia naquele mundo; era, por isso mesmo, a síntese de uma época: o último erudito clássico e o primeiro doutor medieval. Por isso, o Santo tinha muito claro quais elementos da civilização de seu tempo eram bons ou pelo menos úteis aos cristãos, e quais convinha ao crente evitar ou repudiar.
Toda essa mescla de perspectivas se vê no Livro II do seu A Doutrina Cristã3. Ali o Santo descreve, com a maestria que lhe é peculiar, quais conhecimentos o cristão precisa adquirir para ler adequadamente as Sagradas Escrituras. E não só ler, na sua literalidade, mas extrair do texto sacro todo o conteúdo alegórico e simbólico que ele encerra.
Interessante que ao longo deste Livro o Doutor comenta uma a uma as Artes Liberais e demonstra como cada qual podia servir ao propósito mais alto de conhecimento da Palavra de Deus. Ao mesmo tempo, ele adverte, contrapondo os mestres helenistas e romanos, que esse tipo de ciência, ainda que de altíssimo valor intelectual, não deveria ser motivo de envaidecimento humano e que só era legítimo persegui-las se compreendidas como meios para avançar na piedade.
Educação na Idade Média: declínios e renascimentos
Mas não foi de um dia para o outro que essa educação agostiniana prosperou na cristandade europeia.
No alvor da Idade Média, a escola helenística-romana foi pouco a pouco cedendo lugar às escolas monásticas e paroquiais, ambas muito mais centradas na formação de religiosos e clérigos do que em dar ao mundo os humanistas e eruditos dos períodos anteriores. Por alguns séculos, vai se escutar menos a lira de Homero, darão menos a palavra a Cícero. O mundo antigo não cala, mas ressoa tímido e longínquo.
***
Porém foi só um intervalo. Não tardou até as Artes Liberais, puxadas pelo trivium, reconquistarem no quadro da educação Ocidental o prestígio de outrora.
Vencida essa Primeira Idade Média, como define o professor Hilário Franco Jr.4, período de transição que vai desde a Queda de Roma até a Coroação de Carlos Magno, assistiu-se, no fim do século VIII, o chamado Renascimento Carolíngio.
Se, por um lado, ensaiando reconstruir um novo império em par com a Igreja, os francos colocaram relativa ordem na anarquia das tribos germânicas, pacificando, pelo menos por algumas décadas, o cenário político europeu; por outro lado, do ponto de vista cultural e, mais propriamente educacional, a corte franca também proporcionou ao Ocidente avanços da mais alta importância.
Criou-se ali, com intensa participação do monarca, a Escola Palatina, instituição que em dado momento teve como diretor Alcuíno de Iorque, monge saxão responsável por reconquistar junto à cristandade medieval o valor dos estudos clássicos, segundo a metodologia antiga.
Alcuíno nos legou diversos livros de teor pedagógico. Num deles, o Ars Grammatica5, o religioso simula a conversa entre um mestre gramático e dois de seus jovens alunos. A partir do diálogo, ele vai explicando, pela boca do professor, desde os aspectos mais fundamentais da arte da linguagem, até questões complicadas de sintaxe e figuração.
No meio do texto, diz-se o seguinte:
ALUNO
Conduza-nos, conduza-nos e finalmente nos arranque fora do ninho da ignorância com os ramos da sabedoria que Deus lhe deu. E faça-nos capazes de ver algo da luz da verdade através deles. Mostre-nos aquilo que há muito nos têm prometido: os sete estágios do ensino teórico.
PROFESSOR
Certo, os passos que procuram são os seguintes — e estimo que tenham sempre tanta fome por aprender quanto são curiosos para ver: gramática, retórica, dialética, aritmética, geometria, música e astrologia. Os filósofos têm empenhado sua folga e seu tempo de trabalho percorrendo esses passos. Sob seu consulado tornaram-se mais famosos, sob sua monarquia mais amplamente conhecidos, por meio deles tornaram-se memoráveis e dignos de louvor. Seguindo-os, os Santos, Doutores e Defensores de nossa fé católica têm se mostrado, no debate público, superiores a todos os heresiarcas.
Que também vós, queridos jovens, passeiem diariamente por esse caminho, até se tornarem maduros e conquistarem firmeza de espírito para atingir o topo das Sagradas Escrituras. Nesse meio tempo, armem-se e transformem-se em defensores invencíveis da verdadeira fé, sustentáculos da verdade.
Marca-se aí o conúbio entre as Artes Liberais — sobremaneira as artes da palavra, o trivium — e a finalidade formativa cristã, segundo aquilo que séculos antes prescrevera Santo Agostinho.
***
No programa de Alcuíno, entravam, com todo o prestígio merecido, os poetas da antiguidade clássica pagã. Nesse mesmo livro, para dar apenas um exemplo, o monge vai utilizando uma série de versos de Virgílio, o romano, para explicar esse ou aquele tópico gramatical.
Os ares eram outros.
A elite franca estava tanto mais aberta a vasculhar a tradição greco-romana, àquele tempo inofensiva dentro do raio de influência cristã, que os mestres palacianos se tratavam por apelidos tirados de figuras eminentes do mundo antigo. Alcuíno, por exemplo, fazia se chamar Horácio. O Imperador atendia por Davi.
Aliás, Carlos Magno, o grande general, também participava das atividades literárias da escola. No fim, era também um aluno, conforme se lê em Eginhardo, seu biógrafo:
“Ele [o rei] decidiu que seus filhos deveriam ser instruídos de modo que tanto os meninos quanto as meninas se iniciassem nas artes liberais, às quais ele também se dedicava”.6
***
O fausto intelectual da corte carolíngia, amplamente patrocinado pelo rei, trouxe novamente à vida a educação nos moldes helenísticos. Acontece que o Império Carolíngio praticamente só durou o tempo de vida do seu artífice. Morto Carlos Magno, sucederam-se guerras fratricidas em toda a Europa, invasões estrangeiras, de vikings e húngaros, crises na Igreja, enfim, um outro crepúsculo medieval.
Não que a pedagogia do trivium houvesse desaparecido nessa confusão. Ela continuou sendo praticada com afinco nas cortes de Otão I, de outros imperadores e em algumas escolas episcopais, mas de maneira mais discreta que nos tempos de Alcuíno7.
Precisou de um segundo Renascimento8, o do século XII, tempo que viu nascer as catedrais góticas e as universidades, pari passu com as Cruzadas, com a revivescência das cidades, com a ressuscitação do comércio e a formação dos estados nacionais; precisou desse outro fenômeno, que marca um ponto alto da cordilheira medieva, para vermos revigorada a pedagogia tradicional.
Quem nos dá testemunho de como funcionavam as escolas catedrais dessa época é John de Salisbury, religioso inglês que estudou na Universidade de Paris e teve o privilégio de acompanhar aulas de gramática dadas pelo filósofo Bernardo de Chartres. Em sua obra Metalogicon9, em que faz brava defesa das Artes Liberais, ele diz:
“Bernardo de Chartres, em tempos recentes, a maior fonte de ensinos literários na Gália, costumava ensinar gramática da seguinte maneira. Demonstrava, na leitura dos poetas, o que era simples e conforme a regra. Por outro lado, explicava as figuras gramaticais, os embelezamentos retóricos e subterfúgios sofísticos, bem como as relações de determinadas passagens com outros campos de estudos. Ele, todavia, não ensinava tudo de uma só vez. Pelo contrário, dava suas instruções gradualmente, segundo a capacidade de assimilação de seus alunos.
Sempre que tinha oportunidade, Bernardo costumava explicar a seus ouvintes o motivo de ser brilhante uma tal passagem, seja porque as palavras foram bem escolhidas, e os adjetivos e verbos admiravelmente adequados aos substantivos aos quais vinham ligados, seja pelo emprego de metáforas, por meio das quais o significado do que é dito transfere-se para além do sentido comum”.
Temos aí a mesma técnica milenar de leitura comentada dos clássicos. E mais:
“Na medida em que os exercícios a um tempo fortaleciam e afiavam a inteligência de seus alunos, Bernardo esforçava-se por fazê-los imitar o que ouviam. [...] A cada estudante, a uns mais e a outros menos, era exigido que recitasse (de memória) parte do que havia escutado no dia anterior”.10
Além da leitura, procedia-se a memorização, também conforme o modelo antigo. Por fim:
“Ele também explicava os poetas e oradores que serviam como modelo aos jovens em seus exercícios introdutórios de imitação, em prosa e poesia”.
Ou seja: leitura comentada, memorização e imitação. Eis o método clássico na sua plenitude.
Depois, no mesmo capítulo, o autor reclama de uma certa decadência, em seu tempo, na aplicação dessa tão cara pedagogia:
“Meus próprios instrutores em gramática, William de Conches e Richard, chamado o Bispo, um bom homem que agora exerce o ofício de arquidiácono em Coutances, usaram formalmente o método de Bernardo. Mas depois, quando a opinião popular desviou-se da verdade, quando os homens passaram a preferir parecer a realmente ser filósofos, e quando os professores de artes (liberais) se puseram a prometer transmitir toda filosofia no espaço de três ou mesmo de dois anos, William e Richard foram oprimidos e ridicularizados pelos ignorantes e se aposentaram. Desde então se tem dedicado menor tempo e atenção aos estudos de gramática. Resulta disso que encontramos homens que professam todas as artes, as liberais e as mecânicas, mas que são ignorantes na primeira delas, a gramática, sem a qual é fútil tentar avançar para as outras”.11
As fontes são escassas e não é possível saber com precisão o quanto era aguda essa crise. Mas o interessante da passagem é o profundo entendimento de um homem culto e elevado daquela época de que sem os estudos gramaticais, nos moldes do que se fazia nas salas da Escola de Chartres, seria muito difícil progredir em qualquer área, quer do ponto de vista intelectual (artes liberais), quer do ponto de vista prático (artes mecânicas).
Leia a Parte 4 desta reflexão aqui.
- Fábio Gonçalves é escritor e professor. Tem publicado obras para o público adulto e infanto-juvenil, além de materiais didáticos voltados para o ensino da língua portuguesa. Recentemente, lançou o romance Uma Negra Comédia ↩︎
- NUNES, Ruy Afonso da Costa. História da Educação na Antiguidade Cristã. Kirion.
↩︎ - SANTO AGOSTINHO. A Doutrina Cristã. São Paulo: Paulus, 2012.
↩︎ - FRANCO JR., Hilário. Idade Média: Nascimento do Ocidente. São Paulo: Editora Brasiliense, 1986. ↩︎
- COPELAND, Rita. Medieval Grammar and Rhetoric: Language Arts and Literary Theory, AD 300 -1475. Oxford: Oxford University Press, 2009. ↩︎
- EGNARDO. Vida de Carlomagno. Pyrene Digital, 2016.
↩︎ - MCLUHAN, Marshall. The Classical Trivium. Gingko Press. 2009.
↩︎ - Ver: DAWSON, Christopher. A formação da Cristandade, capítulo 16: A Unidade da Cristandade Medieval. São Paulo: É Realizações, 2014.
↩︎ - JONH OF SALISBURY. The Metalogicon. Berkeley: University California Press, 1971.
↩︎ - Ibidem.
↩︎ - Ibidem.
↩︎