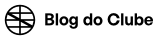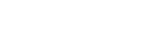A formação da literatura francesa: entre fé, forma e revolução
Cremos que não é necessário um extenso tratado e longos argumentos para convencer o leitor a mergulhar na literatura da França. País de importância histórica e cultural incontestável, desde a idade média a frança goza de uma posição extraordinária na vida intelectual da Europa.
Uma breve vista de olhos pelos principais escritores e obras já dá uma ideia razoável da potência literária do país e das vantagens de se aprofundar numa tal cultura. Ainda que a cultura literária francesa não tenha uma figura de destaque maior, cuja influência possa ser comparada, por exemplo, a de Dante, para a Itália, ou a de Shakespeare, para a Inglaterra, no conjunto das obras e estilos de época, a França deixou sua marca profunda em todo o ocidente.
Em todo o caso, no texto que segue, fizemos um resumo dos principais períodos, autores e obras da literatura francesa. Desde as primeiras obras épicas em dialetos franceses, no início da baixa idade média, até Michel Houellebecq, talvez o mais badalado, e controverso, escritor francês do século XXI.
Breve resumo histórico
A queda do Império Romano do Ocidente a 476 d.C. marca, para fins de divisão cronológica da ciência histórica, o fim da Antiguidade e o início da Idade Média. Com a desintegração da antiga ordem, a Europa se viu dividida em vários reinos de origem bárbara, entre eles os francos, os ostrogodos etc.
O território que, futuramente, e graças ao tratado de Verdun, viria a ser chamado de França foi em parte conquistado e unificado pelos Francos, tribo germânica que primeiro se instalou no norte da Gália (designação romana da atual França), especificamente pela dinastia merovíngia (448-750), a primeira a se destacar na região.
Os merovíngios instituem a vassalidade (condição de dependência de um homem, o vassalo, em relação a seu senhor) e o primeiro rei deles, Clóvis I, converte-se ao Cristianismo – e, com ele, o reino todo – no ano de 496.
A esta dinastia sucedeu à da casa carolíngia, cujo nome de maior vulto, Carlos Magno, foi responsável por uma espécie de renascença cultural medieval e por lançar as bases do que viria a ser o Sacro Império Germânico. Foi sob o impulso dele que o latim passou por uma grande reforma, com a retificação do latim merovingiano, considerado inculto.
É com a ascensão dos capetianos (987-1328), primeira linhagem a governar o novo reino da França (antes, os reis governavam o reino dos Francos, que incluía belgas, alemães e holandeses), que, no plano político-social, se consolida o feudalismo e que a produção literária em língua francesa começa a tomar corpo.
As raízes medievais e o nascimento da língua literária
“É o espírito da nação, seu gênio, por assim dizer, que é o verdadeiro autor d’A Canção de Roland” — Ernest Renan, Cadernos de Juventude, 1845-1846.
Com a Queda do Império Romano do Ocidente, a Gália fica dividida em várias tribos, o latim gaulês se mistura com a língua germânica, vindo a se transformar em língua autônoma e distinta, chamada galo-românica (em outras partes da Europa, o latim deu nascimento ao Ítalo-românico, ibero-românico etc.).
Nesse contexto político e alguns séculos mais tarde, surge o primeiro texto a dar testemunho da língua francesa: são os Sermões de Estrasburgo (843). Trata-se de um documento bilingue (em românico e germânico) que define a repartição do Império entre os netos de Carlos Magno.
Mais ou menos a esta altura, duas línguas havia na Europa, a oficial (latim) e a língua do povo. Por volta do ano 1000, à conta das inúmeras divisões territoriais, característica de um regime feudal, o galo-românico transforma-se em vários dialetos, os quais pertencem, grosso modo, a dois grupos linguísticos distintos: a langue d’oc ao sul da França, e langue d’oïl ao norte —oc e oïl são duas palavras diversas que significam “sim”. Com o tempo, é o dialeto francien (francês antigo, sécs. IX-XIII), da região de Paris, ou seja, do norte, que haverá de se impôr ao conjunto da região.
Até por volta do século XII, todos os textos oficiais ainda eram vazados em latim. É a partir do Concílio de Tours que obras de cunho religioso começam a ser traduzidas para o francês, língua esta cuja evolução conta ainda com mais dois períodos: o francês médio (sécs. XIV-XVI), e o moderno (a partir do século XVII), que se parece com a língua de hoje.
Os primeiros textos literários escritos em francês são hagiografias ou escritos de cunho litúrgico, notadamente a Séquence de sainte Eulalie [ca. 865] e a Vie de saint Léger [ca. 900].
É, contudo, no século XI que surge uma literatura francesa profana.
De uma parte, e simplificando, a langue d’oc produziu poemas líricos, recitados, de castelo em castelo, por poetas errantes, os trovadores. Essa literatura desapareceu ao longo do século XIII. Tinha por tema o amor cortês.
De outra, as canções de Gesta, literatura francesa épica produzida em langue d’oïl, e que coloca em cena certas personagens históricas cujos feitos elas buscam narrar e engradecer. Eram recitadas em público por um jongleur. É preciso lembrar que a cultura medieval era eminentemente oral.
Entre esses poemas épicos, destaca-se La Chanson de Roland (A Canção de Rolando), a mais antiga canção de gesta (redigida no dialeto francês anglo-normando no século XI), poema vazado em 4002 versos decassílabos. Trata-se de uma obra anônima, que por vezes é atribuída, vagamente, a um certo Turold, clérigo ou copista.
A canção inspira-se no evento histórico da batalha de Roncevaux, que teve lugar em 778. A narrativa conta as aventuras de Carlos Magno e seu sobrinho, Roland, o protagonista, em suas batalhas contra os sarracenos instalados na Espanha.
Na literatura da França, em meados do século XV, a temática do lirismo amoroso e cortês, que vinha desde os primeiros trovadores passando pelas canções de gesta já se exaurira. A renovação da arte é obra de François Villon (1431-1468). A importância deste autor está em ter sido capaz de, negligenciando as antigas formas poéticas, criar um novo tipo de poesia, a um só tempo irônica e atormentada, provocante e angustiada.
Humanismo e Renascimento
A Renascença chega à França literária e filosófica com os primeiros progressos da imprensa de Gutenberg e com as guerras da Itália, ou seja, por volta de 1480-1490, vindo a se esgotar em torno de 1600-1601.
O termo Renascimento é, com efeito, moderno. À época empregava-se outras imagens e metáforas: era de ouro, triunfo da luz contra a sombra e mesmo a ideia de restituição ou restauração da verdadeira literatura, antes em exílio (não é lugar aqui de fazer uma crítica à ideia da morte das letras clássicas durante o período medieval).
Estamos no período em que a monarquia absolutista entra a se constituir. A concentração de poder nas mãos do estado, de uma monarquia que submete a nobreza feudal, põe em movimento uma côrte exuberante, a venalidade dos cargos, a submissão da Igreja.
O estudo minucioso das antiguidades clássicas se desenvolve graças à fundação do Collège de France e ao esforço dos humanistas, com a tradução de inúmeras obras gregas e romanas.
Entre os autores do período, destaca-se, na literatura, Rabelais (1483? – 1553). Literato, médico, humanista, suas obras giram em torno de personagens como Pantagruel e Gargantua, e parodiam desde os contos medievais de cavalaria (Fierabras etc.), como o fizera Dom Quixote, até a cultura medieval, escolástica e universitária. Histórias de gigantes, mas com elementos realistas: na evocação da seca de 1532, na topografia da viagem de estudos, nas alusões às indulgências.
Outro nome de vulto do período é Michel de Montaigne. Entusiasta da literatura latina, apreciava todos os poetas, historiadores (mas pouco os oradores), os moralistas; leitor de Plutarco, Montaigne foi influenciado pelo estoicismo, sobretudo através de Sêneca. Destaque-se o seu ceticismo: é que o autor viveu numa época de grandes descobertas, que trouxeram a lume a variedade de opiniões e costumes humanos.
Além disso, durante sua vida, ele foi testemunha das guerras de religião, guerras civis, tempo desconcertante em que duas “verdades” opostas, e defendidas fanaticamente, buscavam se afirmar. Nessa conjuntura, não é de estranhar a ênfase posta na razão natural, especulativa, não sectária, da qual um dos primeiros profetas havia sido, ao menos em parte, Copérnico.
Conformista religioso (agia como católico, pensava como um profano) e político, Montaigne afirmou, antes de Pascal, a irredutibilidade dos domínios da razão e da crença.
Classicismo e Iluminismo (séculos XVII e XVIII)
Desde o fim do reinado de Henrique IV (1589-1610) tem lugar um fato novo na sociedade: a aristocracia se organiza em sociedade mundana e são os hábitos, o estado de espírito e a linguagem dela que terão autoridade doravante do ponto de vista da sociedade e da literatura francesa.
Se na Idade Média havia predominado o elemento nacional, e no renascimento o elemento da antiguidade, o século XVII busca encontrar o equilíbrio: modos antigos tratados à maneira francesa (o espírito francês é, sobretudo, o da clareza). A isto se soma outra tendência da época: o universalismo, isto é, a preocupação de representar os traços da natureza humana que se encontram em todos tempos e lugares.
Fato de vulto é a fundação, em 1635, da Academia Francesa, por insistência do Cardeal Richelieu. A primeira obra publicada foi um dicionário, com a ideia de padronizar a ortografia e a gramática da língua francesa.
Vaugelas, seu autor, entendia que as palavras não deveriam ser criadas artificialmente por gramáticos, mas determinadas pelo uso. Enquanto Montaigne e Malherbe entendiam que o critério do uso era a linguagem do povo, Vaugelas pensava que deveria ser a língua da côrte e dos melhores autores do tempo.
Época de Descartes e seu novo método de organizar o pensamento, de classificar os conhecimentos e de abordar a pesquisa experimental: triunfo da razão.
Destaca-se, desse período, a produção teatral. Jean Racine (1639-1699) apresenta uma visão trágica da condição humana, na qual o indivíduo não pode escapar do seu destino. Molière (1622-1673) refina a o gênero da comédia aliando o cômico ao profundo, a ponto de ser reconhecido como igual de seus contemporâneos Racine e Corneille (1606-1684). Este funda sua dramaturgia na ética do heroísmo: ela representa simbolicamente toda a problemática dos valores sociais de sua época.
O século XVIII, por sua vez, é marcado pelo fato da Revolução Francesa e por todo contexto social, histórico e cultural que levou até ela.
Se, no século XVII, a literatura tinha por objetivo deleitar, a situação no XVIII era de todo diversa. Voltaire, Diderot, Rousseau entendiam que tinham por obrigação fazer crítica social, denunciar abusos. A literatura já não temia falar dos “principais” temas: religião, filosofia, política, moral. Foi nesse clima intelectual que os homens de letras adotaram o título de philosophes.
Romantismo e Realismo (século XIX)
O período compreendido entre 1815 e 1850 marca o que se convencionou chamar de romantismo francês – movimento que surge na Europa na esteira da profunda comoção causada pela Revolução Francesa e que chega tardiamente à França.
Nas palavras de Carpeaux: Valendo-se de elementos místicos, sentimentais, historicistas e revolucionários, o Romantismo reagiu contra a Revolução e o classicismo revivificado por ela, defendeu-se contra o objetivismo racionalista da burguesia, pregando como única fonte de inspiração um subjetivismo emocional.
O romantismo, quer em sua vertente cristã, quer em sua vertente humanista, é sobretudo idealista. Trata-se de uma atitude do espírito que chama os homens a se orientarem por uma ideia que é projeção de suas nostalgias e esperanças e objeto de suas crenças e amor.
Victor Hugo (1802-1885) é considerado um dos líderes do movimento romântico da literatura francesa. Famoso por romances como Os Miseráveis (1862) e o Corcunda de Notre Dame (1831), também foi poeta, dramaturgo e ensaísta. Nietzsche o definiu como “um farol no mar do absurdo”.
É o realismo que reage contra os exageros do romantismo.
Em sentido estendido, classificam-se como realistas obras que buscam dizer a realidade tal como se apresenta, em oposição ao ideal do artista ou do escritor, tão característico do romantismo. Descrever o mundo tal como ele é ou como deveria ser?
A estética realista toma consciência de si ao se opor ao idealismo sentimentalista do romantismo, acabando por se constituir num corpo de doutrina e num movimento.
Por volta de 1855, alguns escritores de vanguarda entram a se qualificarem de realistas e todos eles reclamam Honoré de Balzac (1799-1850) como precursor do movimento — o que faz deste uma espécie de pré-realista. Balzac busca a exaustividade, a reprodução exata da realidade – como dá testemunho A Comédia Humana, empreendimento monumental que conta com mais de 90 obras a esmiuçarem todos os aspectos da vida em sociedade.
Mas é com Flaubert (1821-1880) que temos um dos principais expoentes do realismo propriamente dito. Em Madame Bovary, seu principal romance, Emma, mulher romanesca, a imaginação alimentada de leituras românticas, acaba por encontrar um fim trágico. A obra suscitou um escândalo nas letras da França, malgrada a exclusão das passagens mais chocantes, havendo inclusive processo judicial por “ofensas à moral pública e à religião”.
O novo romance realista se caracteriza pela precisão de detalhes, e pela busca da verossimilhança psicológica e, com o progredir do século XIX, da crítica social, refletindo acerca da criança, da mulher, do trabalhador, do povo, da miséria, isto depois de ter destacado a importância do indivíduo na sociedade.
Era natural que o realismo acabasse por ensejar uma reação literária. É o que se dá com a emergência do simbolismo. Charles Baudelaire (1821-1867) pode ser considerado um precursor do movimento. A influência que ele exerceu sobre os escritores posteriores é decisiva, sobretudo à conta dos assuntos manejados: o tédio, a cidade, a vida moderna etc.. Crente na onipresença do pecado original, o poeta entendia que o sofrimento era para isso um “remédio divino”.
Simbolismo e Modernidade poética (fim do XIX – início do XX)
O manifesto simbolista de 18 de setembro de 1886 se via como inimigo da falsa sensibilidade, da declamação, da descrição objetiva. Levantavam-se os simbolistas contra o naturalismo, e nisto está sua importância. Mas o movimento, de origem eminentemente francesa, não começou aí. Marco importante do estilo foi o lançamento do primeiro número do Le Parnasse Contemporain (1866), antologia na qual colaboraram poetas parnasianos e simbolistas.
O simbolismo francês conquistou a Europa e a América, conservando a literatura francesa na liderança de que gozava já desde o realismo. O novo movimento via em Baudelaire, Rimbaud e Laforgue como seus precursores, e contava com nomes de peso das letras francesas, como Mallarmé e Verlaine.
Em 1884, configura-se o decadentismo, com o lançamento de um livro de ensaios de Verlaine (Poetas Malditos), a respeito de Rimbaud e Mallarmé.
Observa Carpeaux: “a musicalidade do verso, as expressões vagas […] pareciam atentados contra a suprema conquista do espírito francês, a clarté [clareza]; com efeito, os simbolistas eram […] inimigos da Razão discursiva, essa deusa do liberalismo e do radicalismo”. Mallarmé é talvez o poeta mais difícil do século XIX. Hermético entendia que era “a poesia devia ser acessível apenas às almas superiores”.
Evento de vulto para a poesia francesa moderna é a morte de Mallarmé em 1898, com as consequentes fissuras no edifício do simbolismo, que tanto devia ao poeta.
O ano de 1913, em que aparece Alcools, de Guillaume Apollinaire (1880-1918), é marco maior na poesia. As principais reivindicações do século XX (simplificação lírica, retorno ao real etc.) já estavam em germe nos últimos anos do século precedente.
É bom lembrar que durante a primeira metade do século XX, Paris ainda era o centro da vida intelectual e artística européia, posição que só começou a ser ameaçada na década de 1930, e sobretudo após a segunda guerra, por escritores anglo-americanos. A importância internacional do francês declinou a partir da Segunda Guerra, com a emergência da hegemonia cultural americana.
A partir dos anos 50, aparecem os proponentes do nouveau roman (novo romance), atacando as convenções do gênero, ignorando elementos como enredo, diálogo, narrativa linear etc., numa espécie de anti-romance.
A herança simbolista, com sua musicalidade e gosto pelo mistério, ecoou para além da poesia. No limiar do século XX, o imaginário francês voltou-se também ao fantástico e ao popular, em narrativas que mesclavam o drama humano e o enigma sobrenatural. É nesse contexto que surge Gaston Leroux (1868–1927), cuja obra O Fantasma da Ópera (1910) uniu o romance gótico ao realismo urbano da Paris moderna.
Século XX: existencialismo e engajamento
Na esteira das tragédias do século XX, o existencialismo literário (e filosófico) desenvolveu-se sobretudo na França. Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus, Gabriel Marcel e Maurice Merleau-Ponty são os mais destacados representantes do estilo.
Nas palavras do crítico Moisés Maussad “[a filosofia existencialista] […] adota a literatura movida pela identidade básica resultante de o Existencialismo a arte literária centrarem sua atenção no desvendamento da existência. […] Varia a perspectiva — aquele especula, essa mostra — mas o objeto é o mesmo. […] A consequência é um romance e um teatro nos quais se põe em situação o drama do ser humano, cuja existência se desenrola antes da essência, na fruição de uma liberdade tão plena que lhe dá sensação de vagar no reino do gratuita”.
A literatura espiritual e o século XX
Entre os principais representantes da vertente católica do romance, François Mauriac ocupa lugar de destaque. Criador de um tipo de romance, o drama da natureza humana e a angústia do viver se insinuam em todas as suas obras. Seu cristianismo não é doutrinário, mas pura sensibilidade.
A avareza, o orgulho, o ódio, o vício e sobretudo o amor se chocam com a Graça, formando seres intrincados e mesmo enfermiços.
A literatura católica francesa tem Georges Bernanos (1888-1948) talvez seu principal representante. Bernanos difere de Mauriac porque sua obsessão com o pecado se extravasa para além da órbita da carne, do dinheiro e da vaidade. Ele é frenético, visionário, por vezes arrebatado.
No mundo de Bernanos Deus não está ausente: o romancista tem uma visão mais violenta da realidade, cria um mundo luciferino e divino, como duas forças sobrehumanas, num jogo de luz e sombras.
A referência ao mal aparece não raro na obra do escritor: a doença e a morte do pai, a Grande Guerra, a Guerra Civil Espanhola inspiraram, ao menos indiretamente, dois de seus romances. Mas não é só o mal que se insinua em seus romances: ataca frequentemente a mediocridade, o conformismo burguês, o arrivismo e a vaidade estúpida.
É conduzido, por sua temática e estilo, a falar da linguagem do inefável, a presença do sobrenatural, o invisível, impregna o seu universo.
Autores fundamentais da literatura francesa
Rabelais (1483? – 1553) — Muito caro a Victor Hugo, que dele escreveu: “Rabelais fez esta descoberta: o ventre”. Médico, humanista erudito, burguês de província, “honnête homme”, clérigo, aluno da universidade medieval, circulava entre os grandes de seu tempo. Satiriza todas as convenções desnaturais, numa língua tomada de vocabulário escatológico. Encarnação do anti-puritanismo.
Molière (1622-1673) — Observador, moralista, mas sobretudo comediógrafo, o gênio de Molière é por demais rico para se deixar cair em classificações rígidas. Não há gênero do cômico que ele não tenha manejado: comédia de costumes, comédia satírica, estudo de personalidades, farsa. Entre suas obras mais destacadas, citamos O Misantropo e Tartufo.
Honoré de Balzac (1799-1850) — À conta de sua obra monumental e de sua ambição desmesurada, tornou-se, a par de Molière e Victor Hugo, o escritor representativo da literatura francesa no que ela tem de mais universal. Suas obras misturam inextricavelmente a vida e a ficção, o mundo e a literatura.
Gustave Flaubert (1821-1880) — Jovem romântico, alguns o saudaram, na maturidade, como o pai do romance moderno. De si mesmo, disse o escritor (1852): “Há em mim, em termos literários, dois homens distintos: um apaixonado, que quer alçar grandes voos, lírico […] outro que escava em busca da verdade tanto quanto lhe é possível […] que gostaria de dar a conhecer quase materialmente as coisas que reproduz”.
Baudelaire (1821-1867) — Desconhecido durante a vida, tornou-se reconhecido por todas as gerações poéticas do século XX, de Valéry aos surrealistas. O “modernismo” do autor de Fleurs du mal se deve à expressão e aceitação incondicional do pluralismo: a existência fragmentada, consciência dividida entre postulados contraditórios, a multiplicidade das tentações.
Marcel Proust (1871-1922) — Proust sabia que a dimensão inconsciente ou subconsciente é parte integrante do homem. Para o romancista, o eu é concebido como um reservatório de memórias esquecidas. Trata-se de momentos excepcionais e, no caso de certas lembranças, de paraísos perdidos e reencontrados. Temos um eu que, não obstante nos ser tirado a cada dia, toma consciência desses momentos cujos liames são estreitados pela memória. Sua obra magna é À la recherche du temps perdu (Em Busca do Tempo Perdido), publicada entre 1913 e 1927.
Georges Bernanos (1888-1948) — Dizia que escrevia para se justificar a si mesmo “aos olhos da criança que fui”. Essa criança é um ser sonhador, apaixonado pela solidão e pela liberdade. A referência ao mal aparece muitas vezes na obra; nunca deixou de lutar contra o declínio dos valores tradicionais. Entre as principais obras, destacamos Sous le soleil de Satan (Sob o Sol de Satã) de 1926 e Dialogues des Carmélites (Diálogo das Carmelitas) de 1949.
Albert Camus (1913-1960) — A experiência fundante de Camus não é, como em Sartre, a da linguagem, mas a do mundo que se priva das palavras. O escritor reagiu contra o “impossível” de certas experiências de vida, declarando-a absurda. Contra a moral heróica de um Malraux, contra as ideologias generosas, que segundo ele não conduzem senão a uma morte generosa, Camus não cessará de convidar o homem a simplesmente fruir sua presença no mundo. Obras de destaque: O Estrangeiro, A Peste.
Obras indispensáveis da literatura francesa
La Chanson de Roland (anônimo, séc. XII) — Do grupo das gestas (“façanhas”) de Carlos Magno, porta-estandarte de São Pedro, que recebeu de Deus a missão de defender a cristandade na Espanha, na Itália, na Palestina. Síntese de ideal nacional e religioso.
Gargantua e Pantagruel (Rabelais, séc. XVI) — Pantagruel e Gargantua são gigantes e sua história é a dos heróis dos romances de cavalaria, como Fierabras, Huon de Bordeaux etc., nos quais se inspira para compor a trama: nascimento maravilhoso, aventuras fantásticas. Inverossimilhança unida ao realismo. Sátira da idade média, da burguesia.
Tartuffo (peça de teatro de Molière, 1664) — Molière retoma aí o esquema cômico entre o pateta e o enganador que acaba enganado. Tartufo é o hipócrita que recobre sua perfídia com asceticismo e devoção.
Cândido, ou o Otimismo (conto de Voltaire, 1759) — O autor recusa a conciliação da Teodiceia de Leibniz entre o mal do mundo e a justiça divina. O protagonista do conto, o jovem Cândido experimenta as realidades que contradizem o ensinamento de seu mestre Pangloss: “Tudo é para o bem, no melhor dos mundos possíveis”.
Madame Bovary (romance de Flaubert, 1857) — Flaubert faz referência ao modelo balzaquiano, mas ultrapassando-o: a descrição prolífica despoja a ação. O autor multiplica os diferentes pontos de vista para designar a ausência de uma ordem e diluir a realidade numa série de aparências.
Os Trabalhadores do Mar (romance de Victor Hugo, 1866) — Depois de Notre-Dame de Paris e Os Miseráveis, que denunciavam, respectivamente, as fatalidades do dogma e a das leis, em Os Trabalhadores do Mar, Hugo explora aqui a fatalidade das coisas. Epopeia do progresso, fé nas conquistas da mecânica, mas também angústia, e resignação tão cara aos românticos.
O Fantasma da Ópera (romance de Gaston Leroux, 1910) — Mistura de romance gótico e drama psicológico ambientado na Ópera de Paris. Símbolo do imaginário fin-de-siècle, combina o terror e a ternura, a deformidade e o gênio, numa parábola sobre a solidão do artista.
Leia mais sobre o Fantasma da Ópera aqui.
As Flores do Mal (coletânea de poemas de Baudelaire, 1861, 1868) — O poeta busca reconstituir, através de uma série de experiências interiores, um itinerário espiritual cujo sentido está dado no prólogo Au lecteur e pelos poemas que abrem a coleção: Benédiction, L’Albatross, Élevation etc. Divórcio entre uma realidade enganosa, onde reina o tédio e o sonho inacessível que busca o poema.
Em Busca do Tempo Perdido (série de romances de Marcel Proust, 1913-1927) — Trata-se de um “compêndio” da vida humana: desde a infância até a idade madura. Romance psicológico e sátira social, descreve, num espaço de vinte anos, o declínio da sociedade. No coração do romance e da consciência do narrador, está o Tempo, que tudo transforma. Mundo em fluxo e, com ele, a própria consciência.
O Estrangeiro (romance de Albert Camus, 1942) — Meursault, personagem principal, é um homem indiferente, um estranho: alheio ao mundo, às leis, aos sentimentos. O personagem romanesco é aqui reduzido a uma consciência opaca e indecifrável, característica do romance psicológico moderno. O sentimento do absurdo se torna mais intenso por se tratar de uma narrativa em primeira pessoa.
Submissão (romance de Michel Houellebecq, 2015) — Trata-se de uma distopia, ficção especulativa na qual a França havia se tornado um estado islâmico. A perspectiva sombria das obras do autor lhe granjearam muitos admiradores, ainda que trata de temas em geral bastante controversos.
Características centrais da literatura francesa
Desde, pelo menos, o início do século XVIII, e com o desenvolvimento de uma classe média, a cultura francesa foi tomada pelas características do que veio a se chamar Iluminismo: espírito de inquirição e questionamento, predomínio da razão “esclarecida”.
A cultura iluminista fundava-se no uso da razão, na discussão. Nas palavras de Tocqueville sobre a Revolução Francesa:
“Eram atraídos por teorias gerais, legislação sistemática de caráter universal, a busca da simetria nas leis…foi esse desejo que refez de todo a constituição a partir das regras da lógica e de acordo com um único ideal…”
Aí aparecem as ideias de meritocracia, ou de uma aristocracia da competência, contra os privilégios “feudais” de classe. A filosofia e a crítica sempre desempenharam papel importante na vida intelectual francesa.
Importante lembrar que a Revolução, e o Iluminismo, tinham, por assim dizer, dois braços: um de matriz liberal, de exaltação do indivíduo, que veio a predominar na esfera anglo-americana e, daí, para o mundo. Outro republicano, que conservava ainda algo das antigas tradições filosóficas quanto às virtudes civis e ao bem comum. Foi este último, de maneira geral, que tendeu a predominar na França, embora, no fim das contas, o liberalismo tenha se tornado a única ideologia “funcional” da modernidade.
Quanto à língua, ainda que o “mito” da clareza do francês tenha sido colocado em questão, pode-se dizer que, se cada língua tem características próprias, a clareza é apanágio da cultura francesa.
Em 1873, num ensaio intitulado “A Universalidade da Língua Francesa”, Antoine de Rivarol concebeu talvez a definição mais famosa do espírito francês: “Ce qui n’est pas clair, n’est pas français”: se não é claro, não é francês.
Desde a época clássica os escritores franceses se esforçam para precisar o sentido das palavras (por exemplo, pelo estudo da sinonímia). Alguns opuseram a essa precisão da língua francesa certa “indefinição”, por exemplo, das palavras inglesas, que tem em torno de si uma “aura vaga” de conceitos.
Na famosa frase de Boileau: “aquilo que é bem pensado se presta a ser enunciado com clareza, e as palavras para dizê-lo vêm com facilidade”. Resumo talvez. se não da realidade absoluta, pelo menos do ideal da cultura francesa dos últimos séculos.
Obras Consultadas
- Dictionnaire des écrivains de langue française. Paris: Larousse.
- Dictionnaires des littératures de langue française. Paris: Bordas, 1994.
- Dictionnaire des grandes oeuvres de la littérature française (dir. Henri Mitterand). Paris: Les Usuels, 1994.
- Gaston Paris, Mélanges de littérature française du moyen age. New York: Burt Franklin Nrw York, 1971.
- H. Gallard de Champris, Les écrivains classiques. Paris: J. de Gigord Éditeur, 1934.
- Henri Clouard, Histoire de la littérature française. Paris: Éditions Albin Michel, 1949.
- La Chanson de Roland, Petits Classiques Larousse, 2010.
- La littérature française (J. Bédier, P. Hazard, dir.). Paris: Librarie Larousse, 1948.
- Le dictionnaire – littérature française contemporaine. Paris: Éditions François Bourin, 1988.
- Marcel Girard, Guide illustré de la littérature française moderne – de 1918 a nos jours. Paris: Collection Seghers, 1954.
- Otto Maria Carpeaux, História da Literatura Ocidental, 4 vols. Brasília: Edições do Senado Federal, 2008.
- P.H. Simon, Histoire de la littérature française au XXe siècle. Paris: Librarie Armand Colin, 1963.
- Rychner, La chanson de geste — essair sur l’art épique des jongleurs. Geneve, Lille: Librarie e. Droz et Librarie Giard, 1955.
- V.-L. Saulnier, La littérature française de la renaissance (que sais-je?). Paris: Presses Universitaires de France, 1965.
- R.-J. Berg, Fabrice Leroy, Littérature française – textes et contextes, t. II. Florida, Holt, Rinehart and Winston Inc., 1997.