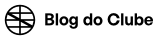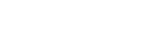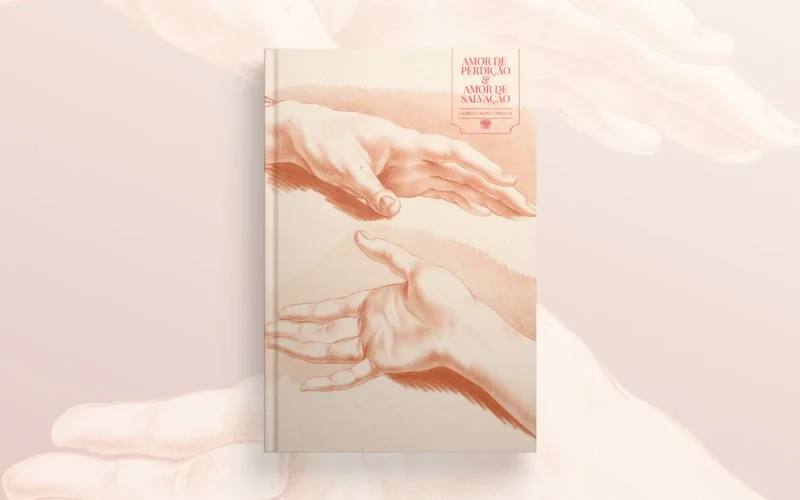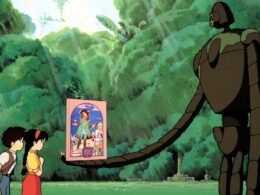O protagonista de Dostoiévski tem um nome: Travis Bickle, e já ganhou até Oscar
Por Gabriel Andrade Adelino1
I. Um novo tipo de homem surge
Na Rússia czarista, onde a filosofia se fazia por romances, formava-se um tipo humano cujo modelo de ação se estruturava por um estranho hábito de pensar demais. Era um homem imóvel, que se revirava dentro de si mesmo, cada pensamento servindo para contradizer o anterior, num ciclo psicótico sem fim.
As ruas de São Petersburgo fervilhavam de servos libertos, burocratas entediados, estudantes inflamados por Hegel, e entre eles irrompia, pela primeira vez com voz própria, esse personagem doente, hesitante, com uma suposta lucidez que o conduzia à autodestruição, um sujeito que parecia não caber mais na linguagem da moral nem da política.
Foi em Memórias do Subsolo, publicado em 1864, que Fiódor Dostoiévski inaugurou esse modelo de consciência como um zeitgeist da época.
O monólogo do protagonista, essa voz que fala sem rumo, que se contradiz, que finge não se importar mas julga a todos obsessivamente, transformou-se numa espécie de anatomia psíquica, onde os ideais racionais do Ocidente moderno e dos ateus deterministas pareciam finalmente ganhar forma.
O tal sujeito não parecia buscar justiça, tampouco verdade. Ele queria, no máximo, preservar a própria contradição, como último refúgio contra qualquer solução prática para a própria vida. É um personagem que sente prazer na própria ruína, como quem, sem acreditar no bem, ainda assim recusa o alívio da ignorância.
Mas esse tipo de consciência não surgiu isoladamente. A Rússia de então vivia um mal-estar histórico, em que a censura institucional obrigava os debates filosóficos a se darem por meio de obras literárias — ainda bem, pois daí veio a imensa maioria dos clássicos russos que conhecemos hoje.
As revistas e os escritores eram vigiados, os círculos intelectuais caçados, os escritores enviados ao exílio ou à prisão. Neste cenário, os romances absorveram uma densidade conceitual inédita, pois escrevia-se não só para narrar, mas para pensar, teorizar e experimentar ideias sob forma narrativa.
O romance russo tornou-se, assim, um espaço de confronto entre valores em crise, e Memórias do Subsolo condensava esse impasse ao extremo.
Entre o iluminismo e a fé, entre a vontade de viver e a vergonha de existir, surgiam personagens que eram tão reais quanto os intelectuais da época.
É dessa zona de conflito, onde o indivíduo se torna incapaz de agir sem antes se despedaçar em perguntas, que nasce o arquétipo do homem do subsolo. E embora esse personagem tenha emergido de uma São Petersburgo úmida, iluminada a gás e sufocada por ideias europeias mal digeridas, seu destino não se encerrou ali.
O século XX, com seus arranha-céus, guerras televisionadas e suas metrópoles em colapso, daria vida novamente a esse homem. A cidade moderna americana, construída sobre a promessa de mobilidade e sucesso individual, acabaria por revelar também seus porões, e neles surgiria uma nova versão daquele mesmo sujeito do subterrâneo.
Em Taxi Driver, filme de 1976 dirigido por Martin Scorsese e escrito por Paul Schrader, a figura do homem do subsolo retorna sob a forma de Travis Bickle, veterano de guerra que vaga pelas ruas de Nova York dirigindo um táxi noturno. Sua linguagem muda, mas a assinatura psíquica permanece na forma da necessidade de ser visto, de justificar-se, de existir aos olhos de um mundo que parece lhe recusar qualquer reconhecimento.
O ressentimento, antes justificado por uma teoria do mundo, agora se transforma em ação violenta, mas a estrutura psíquica que o move é a mesma.
Entre os becos sujos da cidade americana e os corredores abafados dos apartamentos de São Petersburgo, desenha-se uma linha contínua, da consciência que não suporta mais o próprio isolamento, mas que também não sabe o que fazer com a liberdade que tem.
As semelhanças entre as obras não são coincidência. Schrader, o roteirista do filme, vivia uma vida parecida com a do homem do subsolo quando escreveu o roteiro de Taxi Driver. Recém-divorciado, vivia isolado, em situação financeira precária; frequentava cinemas adultos para vencer o tédio, e passava por uma crise existencial tão forte que, dos males o menor, ao menos nos entregou o clássico do cinema.
Dito tudo isso, a ideia desse texto é fazer um paralelo entre as obras, com uma motivação simples de tentar explicar que esse estado de espírito do subsolo não era característico da Rússia do século XIX, mas um diagnóstico perfeito de uma mentalidade que ainda existe.
II. A gênese do subsolo
Entre 1860 e 1880, a literatura russa parecia sofrer de um excesso de consciência.
Os romances publicados nesse período representavam personagens singulares, que, em discursos mentais ou públicos, colocavam em cheque sistemas morais, fórmulas sociais e ridicularizavam qualquer tentativa de edificação racional da vida.
Se Tchékhov, anos depois, transformaria esse desencanto em tédio, Dostoiévski preferiu enfiar a faca na ferida e observar o que escorria. Memórias do Subsolo ocupa um lugar curioso nessa genealogia: é o momento em que o romance russo se volta inteiramente para o interior de um sujeito dilacerado, e que ironicamente serve como um espelho para os literatos da época.
A figura central do livro constitui uma espécie de campo de forças contraditórias, condensando tensões que vão do cristianismo ortodoxo à matemática moderna.
Seus ataques ao racionalismo, sua recusa sistemática da lógica do interesse próprio, tudo aponta para uma disputa simbólica mais ampla, a tentativa desesperada de preservar alguma subjetividade num mundo que passava a tratar o homem como mera engrenagem ou resultado estatístico dentro de uma equação muito maior.
A Rússia de então via florescer, nos círculos intelectuais, um entusiasmo cego pela ciência, pela modernização do Estado e pela doutrina utilitarista. O protagonista de Dostoiévski reage a esse cenário com seu rancor e sua impossibilidade de viver segundo qualquer norma que não seja a da contradição permanente.
Um personagem intrigante se cria.
O homem do subsolo sofre não por excesso de repressão, mas por excesso de lucidez.
Percebe em si todos os movimentos que constituem a vida comum — desejo de afeto, inveja do outro, aspiração a alguma grandeza —, mas vê em cada um desses impulsos um sinal de fraqueza, um escândalo contra a dignidade que ele exige de si mesmo.
A consciência, nesse regime, torna-se uma forma de autoviolência, pois pensa-se para se paralisar, raciocina-se para sabotar a própria ação — é um overthinking em esteróides.
Esse traço é o que o separa do chamado “homem de ação”, que o narrador satiriza ao longo da obra como alguém vulgar, movido por interesses imediatos e incapaz de refletir sobre os próprios atos. Em oposição a ele, o sujeito do subsolo sente-se superior, mas paga caro por essa superioridade ao viver como um espectro, consumido por seus pensamentos, alheio a qualquer forma legítima de pertencimento social.
Escrito como se fosse uma confissão, o texto flui com uma espontaneidade cuidadosamente construída, repleto de desvios, comentários sarcásticos, autoironia, perguntas dirigidas ao leitor e afirmações que se desdizem em seguida. Há um prazer evidente nessa desorganização, como se cada frase carregasse o duplo movimento de se mostrar e se destruir. A voz do narrador parece desconfiar de toda ideia articulada demais, como se a clareza fosse uma forma disfarçada de mentira. Isso dá ao texto um aspecto errático, por vezes cômico, por vezes trágico, em que a forma do discurso reproduz a instabilidade emocional e intelectual do personagem.
Nas páginas finais, o sujeito finalmente se lança ao mundo, e o resultado é desastroso.
A tentativa de seduzir uma jovem prostituta, revela-se um espetáculo de humilhação mútua quando ele tenta encenar um gesto moral elevado, mas o ressentimento explode em forma de desprezo e crueldade. O que era para ser redenção termina como farsa. E mesmo quando reconhece o próprio fracasso, o personagem não recua e insiste em narrar, em pensar, insiste em justificar o injustificável.
Esse cansaço, essa verborragia, define o que se tornou, para muitos críticos do século XX, o arquétipo moderno por excelência: o homem saturado de si, incapaz de agir, mas tomado por uma vontade obscura de significar algo para alguém.
É difícil não reconhecer aqui o esboço de outras figuras que viriam depois.
Raskólnikov, o protagonista de Crime e Castigo, surge como um prolongamento natural do homem do subsolo — com a diferença de que ele age, ainda que por um imperativo filosófico torto. Ivan Karamázov, mais tarde, dará voz às angústias metafísicas com um estoicismo desesperado. Mas é no narrador de Memórias que está o modelo inicial, o molde, a máquina psíquica que Dostoiévski voltaria a usar, com variações, por toda a vida. A partir dele, torna-se possível enxergar a literatura como um campo de testes onde os impasses da modernidade são encarnados em personagens que não têm interesse em vencer, mas apenas em sobreviver ao que pensam.
O impacto da obra, porém, ultrapassaria as fronteiras da literatura russa.
No século XX, esse personagem reaparece sob novas máscaras. Em Kafka, em Sartre, em Camus, em Bernhard — e, sobretudo, no cinema. A obsessão pela interioridade, o gosto pela humilhação autoinfligida, o desprezo pelos códigos sociais e a necessidade de ser visto por alguém — tudo isso seria reformulado, em décadas futuras sob o concreto e a névoa das metrópoles ocidentais.
E é nesse ponto que o subsolo russo, iluminado por lamparinas e cheio de mofo, passa a reverberar entre os trilhos do metrô nova-iorquino e nos corredores abafados onde Travis Bickle afia sua angústia.
III. O eco americano do subsolo
Nova York nos anos 1970 era o retrato exato de um colapso urbano em marcha.
A cidade acumulava sujeira, abandono institucional, decadência física e psíquica pra todo lado. A promessa americana de prosperidade havia sido reduzida a slogans políticos, enquanto a vida cotidiana se tornava um circuito de sobrevivência e ressentimento.
O sonho de integração cedia espaço a uma experiência difusa de exclusão silenciosa, em que os fracassados deixavam de ser exceções para se tornarem a regra. Travis Bickle surge desse ambiente como um protagonista que representa a forma mais sintética desta nova normalidade.
Ele passa noites dirigindo sem destino, conversando pouco até com pessoas mais próximas, e escrevendo sobre as ruas sujas e infectadas da cidade.
Travis atravessa a cidade como quem percorre uma nação que já considera perdida.
A cidade aparece como algo a ser purgado, e ele se oferece como agente de uma purificação imaginária. Ele se convence de que sua raiva tem função moral, e passa a ver inimigos nos corpos que perambulam pelas esquinas. Decide, sozinho, quem merece continuar vivendo.
É nesse ponto que a conexão com o homem do subsolo se explicita.
Ambos partem de uma experiência de isolamento que não é apenas social, mas existencial.
Travis, como o narrador de Dostoiévski, sofre de uma consciência que gira em torno de si mesma, incapaz de encontrar um centro estável. Coleciona diários com pensamentos obsessivos, com vocabulário simples, direto, quase mecânico, como se a linguagem fosse o último fio de contato com um mundo do qual ele já não participa.
O uso do monólogo interior em Taxi Driver, reforçado pela narração em off, recria o mesmo efeito de clausura psíquica que estrutura Memórias do Subsolo.
Ambos os personagens falam para si mesmos como quem precisa comprovar que ainda existem. Há um prazer evidente na formulação de suas misérias, uma espécie de autocomplacência envenenada pela necessidade de ter razão. Mas é uma razão que não se sustenta. O espectador de Scorsese, como o leitor de Dostoiévski, entra num circuito fechado, onde a mente do protagonista torna-se uma espécie de cárcere privado.
Tanto Travis quanto o homem do subsolo criam para si uma narrativa de superioridade.
A cidade está podre, as pessoas são idiotas, o mundo é vulgar. Essa percepção serve como defesa do resto do mundo, porque se o entorno é desprezível, então a própria inadequação pode ser interpretada como sinal de lucidez.
Embora ambos construam ao longo de suas narrativas um discurso marcado pelo desprezo ao mundo que os cerca e pela crítica ácida às normas que regulam a convivência social, não é difícil perceber que, sob essa camada de desdém e ironia, permanece ativo um desejo profundamente mal resolvido de aceitação.
Travis, por exemplo, projeta em Betsy uma figura idealizada de pureza e estabilidade, enxergando nela a possibilidade de conexão e sentido que sua vida fragmentada não lhe oferece. O narrador de Dostoiévski, por sua vez, deposita em Liza a mesma expectativa ambivalente, de que ela é, ao mesmo tempo, alvo de sua repulsa e de sua esperança de redenção. Ambos falham, e não por acidente, mas porque qualquer tentativa de aproximação com o outro, em vez de abrir espaço para a alteridade, acaba se traduzindo em manipulação, sarcasmo ou desprezo, como se o simples gesto de se tornar vulnerável já fosse, em si, um atentado à imagem cuidadosamente cultivada de superioridade ressentida.
É sintomático que, no instante mesmo em que recebem a atenção que tanto parecem desejar, imediatamente reagem com agressividade ou hostilidade, sabotando o vínculo antes mesmo que ele se forme. O resultado é que toda tentativa de encontro termina por se converter em cena de humilhação, tanto para eles quanto para aqueles que se aproximam.
Essa dinâmica revela o que talvez se possa considerar o traço mais persistente e estrutural desses personagens: a oscilação contínua entre o impulso de ser visto, reconhecido, legitimado por um olhar externo, e a recusa obstinada em se mostrar tal como são, ou seja, frágeis, carentes, expostos.
A imagem que cada um projeta de si mesmo — Travis com seu uniforme militar gasto, o homem do subsolo com sua pose de intelectual cínico — é uma ficção pessoal que se alimenta da distância entre o que aparentam e o que não suportam admitir.
Essa imagem, porém, nunca se sustenta por muito tempo.
Tanto um quanto outro vivem aprisionados numa tensão que se mostra, ao fim, insustentável. De um lado, o desejo de pertencer a uma comunidade, de ser parte de alguma forma de sociabilidade que dê sentido à própria existência; de outro, um ressentimento profundo diante da exclusão vivida — ressentimento que, longe de provocar simples afastamento, converte-se numa hostilidade difusa, num ódio generalizado que não poupa nem o outro nem o próprio sujeito.
Não se trata apenas de solidão, mas de uma solidão ativa, defensiva, que se arma contra qualquer tentativa de aproximação. O mundo é odiado não só porque é indiferente, mas porque se acredita, ainda que inconscientemente, que ele deveria ter sido diferente. E o próprio ódio a si mesmo nasce do fato de que, em algum nível, ainda se deseja fazer parte daquilo que se repudia.
Nesse contexto, o espaço urbano — São Petersburgo em Dostoiévski, Nova York em Scorsese — cumpre uma função simbólica precisa, pois representa a exterioridade em sua forma mais crua, mais hostil. A cidade, nesses dois casos, opera como um espelho deformado da alma de seus protagonistas. A São Petersburgo úmida, abafada e soturna, marcada por um urbanismo que sufoca seus habitantes, espelha o clima de reclusão e desgaste psíquico do homem do subsolo. Já a Nova York dos anos 1970, com seus letreiros sujos de néon, suas calçadas cobertas de lixo, encena de forma eloquente a decadência moral e afetiva que marca a trajetória de Travis.
Privados de qualquer referência externa que possa ordenar seus afetos — seja ela uma doutrina religiosa, um ideal político ou um senso comunitário de pertencimento —, tanto Travis quanto o homem do subsolo acabam por confiar exclusivamente em sua própria vontade, como se nela estivesse o único critério ainda possível de orientação existencial.
O narrador de Dostoiévski diz isso de modo explícito ao afirmar que o homem não deseja o bem ou a razão, mas apenas uma vontade que lhe seja própria, “custe o que custar essa independência e leve aonde levar.” Travis, embora jamais formule tal ideia em termos abstratos, age como se estivesse tomado por esse mesmo imperativo, o de fazer algo, qualquer coisa, contanto que possa provar a si mesmo, e talvez aos outros, que ainda tem algum poder de ação.
O gesto final de violência, nesse sentido, é uma afirmação desesperada de autonomia.
Há, ainda, em ambos os casos, um certo elemento de grotesco, uma espécie de distorção cênica que os aproxima mais de caricaturas do que de heróis trágicos. Seus gestos são calculadamente teatrais, suas falas são afetadas, e suas escolhas parecem sempre marcadas por uma necessidade de encenação — como se, mesmo no fundo de seus delírios, mantivessem um mínimo de consciência de que estão representando um papel.
A masculinidade que encarnam — dura, vingativa, solitária, inabalável — aparece como tentativa desesperada de dar forma a um ideal já gasto.
Os prostíbulos e cortiços da São Petersburgo czarista, tal como as ruas escuras e os cinemas pornôs da Nova York pós-Nixon, tornam-se os palcos onde essa paródia se desenrola. E se o mundo já não admite mais heróis, resta-lhes ao menos a fantasia de sê-lo, ainda que por algumas páginas ou minutos.
De modo irônico, como disse Scorsese em uma entrevista, no caso de Travis essa fantasia não é punida, mas recompensada.
O homem do subsolo, apesar de sua confissão desordenada, termina sua narrativa com a palavra ainda em mãos, e continua falando, como se a própria fala bastasse para justificar sua existência. Travis, por sua vez, apesar de sua explosão de violência, apesar de seu isolamento patológico, termina celebrado como herói por uma comunidade que até então o ignorava.
- Gabriel é redator, publicitário e roteirista. ↩︎