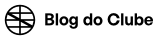Trabalho difícil escolher apenas uma dentre as obras-primas do Clube para ser classificada como indispensável. Aliás, trabalho ingrato! Apenas uma? Como decidir assim, num golpe de arbítrio, entre Dom Quixote e Dom Casmurro? Moby Dick e Crime e Castigo? Os Lusíadas ou o Paraíso Perdido? A nenhuma delas caberia menos que o primeiro lugar em qualquer lista de leituras essenciais – e, caso estivessem na mesma concorrência, então teríamos que suspender o princípio de impenetrabilidade dos corpos e colocá-las todas ocupando o mesmo espaço no pódio.
Mas se a tarefa é escolher apenas uma – e uma apenas! – permito-me então decidir por aquela que foi a obra que primeiramente me atraiu para o Clube de Literatura Clássica; e que talvez tenha o mérito de ser a mais antiga da coleção, bisavó de tantas outras, ancestral e mítica como as colunas de Éfeso ou os afrescos de Knossos. Isso há de lhe valer alguma deferência, pois, se é certa a máxima de que clássico é o que atravessa as eras sem perder o brilho, então não há em todo Clube obra mais clássica que esta: refiro-me, claro, à Oréstia de Ésquilo.
Considerado por muitos o pai da tragédia, Ésquilo estava em seu momento mais maduro quando escreveu a Oréstia. Suspeita-se que tenha sido sua última trilogia. Ela narra a terrível saga da família dos Atreus, desde Agamêmnon até Orestes, e é profundamente marcada pelo clássico senso grego de destino. Entretanto, e talvez nisso reside sua maior genialidade, é a obra que promove uma primeira resistência a esse mesmo senso, propondo à tragicidade antiga uma alternativa: se o Édipo de Sófocles era uma vítima de seu próprio oráculo, arrastado pela vida por forças que ele jamais poderia controlar, o Orestes de Ésquilo é alguém que, herdeiro da vingança e do sangue, vislumbra uma chance de reverter o desígnio das Moiras ou de, pelo menos, dar-lhe um resultado diferente. Tal chance não está na ingerência individual e heroica – como gostaríamos nós, os modernos, com nossas fantasias individualistas – mas no coletivo, no comunal, na pólis. Não é Orestes quem, sozinho, vence as Fúrias e retoma a paz com seus próprios atos. Aliás, os atos individuais dos Atreus são atos de vingança, de violência, perpetuadores da maldição inaugurada pelo assassinato de Crisipo. Não individualmente se muda o destino. Mas é na formação do primeiro tribunal, na congregação de jurados, defensores e promotores, na apreciação social e coletiva dos fatos, que o ciclo finalmente se quebra, a vingança dá lugar à justiça e à civilização. As Erínias se tornam Eumênides; as Fúrias se tornam as Venturosas.
A trilogia de Ésquilo conclui sua assustadora escalada de assassinatos, parricídios, fratricídios, traições e violências com o mito da formação do primeiro tribunal. A partir dele, a vingança se torna uma força domesticada, e a voz coletiva da pólis se sobrepõe à maldição do sangue familiar. Ainda que o julgamento resulte numa conclusão ofensiva à compreensão contemporânea – neste texto encontramos a concepção grega de que a mulher é um simples saco onde o homem deposita sua semente – isso não diminui seu valor como representação dramática e mítica do momento em que o acordo civilizado entre as partes supera a vendeta. Como então não ler essa obra? Como ignorá-la se hoje, e amanhã também, seguiremos discutindo a dicotomia entre indivíduo e sociedade? Entre o arbítrio de poucos e o de muitos? Entre a justiça e o justiçamento social?
Além disso, talvez seja apenas impressão minha, mas sinto que as pessoas da nossa época encontrariam inusitada identificação e sentido nas tragédias gregas, caso as lessem mais. Não apenas pelo caráter fundacional que muitas delas possuem, como ocorre com a Oréstia, mas por certa afinidade estética e emotiva. Posso estar muito errado, porque isso é subjetivo, mas percebo que nós, a civilização da técnica, do virtual e das redes, temos pouco a pouco retomado inesperado pendor para o grandiloquente, o trágico, o heroico, que nos aproxima, e muito, da antiga Hybris grega. Parece-me que a abstração sutil e as complicações imponderáveis da pós-modernidade tenham nos cansado nos últimos anos, e procuramos avidamente aquele velho senso de exagero, de patetismo, de misticismo dos aedos clássicos. Talvez nunca tenhamos deixado de ser gregos. E em tempos catastróficos como os nossos, talvez o grito desesperado de Orestes perseguido pelo remorso se faça ouvir ainda mais alto em nossas gargantas.
Você também pode gostar desta análise do Prof. Bernardo Lins sobre Oréstia.