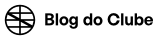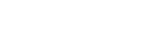Redação do CLC
Ao longo do século XIX, a França não foi apenas um centro de poder político e revoluções intelectuais — foi também o farol cultural que iluminou grande parte do mundo ocidental. No Brasil, recém-saído da condição de colônia portuguesa e em busca de uma identidade nacional, essa influência foi particularmente marcante. A elite brasileira via na França um modelo de civilização, elegância e erudição. Naturalmente, a literatura — essa arte que molda o espírito de uma nação — foi um dos principais canais por onde se deu essa transferência cultural.
Este artigo propõe um mergulho no diálogo fecundo entre a literatura francesa e a brasileira durante o século XIX, traçando paralelos entre grandes nomes de ambas as tradições e observando como os ventos de Paris sopraram intensamente sobre os salões, os jornais e as páginas dos romances brasileiros. Com base em estudos críticos consagrados, revelaremos o quanto autores como José de Alencar, Machado de Assis e Raul Pompeia foram tocados pela estética, pelos temas e pelas formas da tradição literária francesa.
Paris como farol do mundo: a relevância cultural da França nos séculos XIX e XX
No século XIX, a França consolidou-se como a capital intelectual da Europa. Desde a Revolução Francesa, passando pelo florescimento do Romantismo, do Realismo e do Simbolismo, até os movimentos modernistas do século XX, o país exerceu uma influência estética e filosófica global. Intelectuais de todo o mundo peregrinavam à Paris em busca de inspiração, prestígio e formação.
Segundo Antoine Compagnon, professor do Collège de France, a França via a si mesma como missionária da civilização, e a literatura era uma das pontas dessa lança cultural1. Essa visão era compartilhada por elites latino-americanas, que importavam livros, estilos e ideias, como uma forma de participar da modernidade europeia.
No Brasil, essa francofilia se refletiu em diversas áreas: arquitetura, moda, jornalismo e, sobretudo, literatura. O francês era a língua culta por excelência, ensinada nos melhores colégios e falada nos salões da elite. Era comum que intelectuais brasileiros estudassem autores franceses antes de se debruçarem sobre suas próprias tradições nacionais.
Romantismo importado: de Victor Hugo a José de Alencar
O Romantismo francês, marcado por figuras como Victor Hugo, Alphonse de Lamartine e Alexandre Dumas, foi a primeira grande corrente literária a impactar diretamente os escritores brasileiros. José de Alencar, considerado o fundador do romance nacional brasileiro, foi profundamente influenciado por esses modelos.
A idealização do amor, o heroísmo trágico, os cenários exóticos e a defesa de valores patrióticos presentes nas obras de Victor Hugo ecoam fortemente em obras como Iracema (1865) e O Guarani (1857). Como observa o crítico Alfredo Bosi2, a influência do romantismo francês em Alencar é explícita na construção de personagens heroicos e na linguagem grandiloquente que busca elevar o tom nacional ao nível dos épicos europeus.
Enquanto Dumas escrevia sobre os mosqueteiros de Luís XIII, Alencar traçava a saga de índios idealizados e cavaleiros coloniais. Ambos construíram uma mitologia em torno de seus países, usando o romance como forma de educação moral e nacionalista.
Realismo e ironia: a França de Flaubert e o Brasil de Machado de Assis
A transição do romantismo para o realismo, na segunda metade do século XIX, trouxe um novo paradigma narrativo: menos emoção exaltada e mais análise racional das motivações humanas. Gustave Flaubert, com Madame Bovary (1857), tornou-se o símbolo maior dessa virada estilística e ética.
No Brasil, Machado de Assis foi quem melhor absorveu — e superou — essa estética. Embora não se possa afirmar que Machado foi um simples epígono de Flaubert, há inegáveis paralelos entre os dois: ambos compartilham uma visão desencantada do mundo, um estilo lapidado e um domínio da ironia como forma de crítica social.
O crítico John Gledson3 afirma que a leitura de autores franceses foi fundamental na formação machadiana, especialmente no que diz respeito à psicologia dos personagens e ao uso sofisticado do narrador não confiável. De fato, obras como Dom Casmurro (1899) e Memórias Póstumas de Brás Cubas (1881) revelam um autor consciente da tradição realista europeia, mas com voz própria — uma voz aguda, irônica e profundamente brasileira.
Naturalismo e denúncia: Zola e o Brasil de Raul Pompeia e Aluísio Azevedo
Com Émile Zola, a literatura francesa mergulhou no naturalismo, um estilo marcado pelo determinismo científico, pela crítica social e pela observação quase clínica do comportamento humano. Sua obra influenciou diretamente a Geração de 1880 no Brasil, especialmente autores como Aluísio Azevedo e Raul Pompeia.
Em O Mulato (1881) e O Cortiço (1890), Aluísio adota a linguagem direta, os cenários urbanos e os conflitos de classes como forma de escancarar as contradições da sociedade brasileira. Raul Pompeia, por sua vez, com O Ateneu (1888), oferece uma leitura psicológica densa e crítica do ambiente escolar da elite carioca, revelando as hipocrisias sociais e morais da época.
Como aponta a pesquisadora Lucia Miguel Pereira4, a escola naturalista foi, no Brasil, um instrumento de denúncia social e de reformulação do romance enquanto espelho do real, espelhando os traços do naturalismo francês sem perder a especificidade tropical.
Música, imagens e mistério: a herança simbolista e parnasiana na poesia brasileira
No final do século XIX, a França testemunhou o surgimento de movimentos poéticos que buscavam romper com o objetivismo realista. O Parnasianismo, com sua busca pela forma perfeita, e o Simbolismo, voltado à musicalidade e ao misticismo, chegaram rapidamente ao Brasil, onde encontraram terreno fértil.
Cruz e Sousa, chamado “cisne negro” da literatura brasileira, foi o principal nome do Simbolismo no país. Sua obra, especialmente Broquéis (1893), revela o diálogo direto com poetas como Stéphane Mallarmé, Verlaine e Baudelaire, cujos versos etéreos, carregados de sinestesia e de imagens oníricas, redefiniram a sensibilidade poética da época.
Como destaca Afrânio Coutinho5, a influência francesa não se limitou ao vocabulário ou às temáticas; moldou a sensibilidade do poeta simbolista, conferindo-lhe um tom de exílio interior, de angústia transcendental, que ressoava com as atmosferas decadentes da literatura fin-de-siècle.
Por outro lado, o Parnasianismo, com sua estética do “arte pela arte” e predileção por temas clássicos, encontrou em Olavo Bilac seu representante mais popular. Em poemas como Profissão de fé e O Caçador de Esmeraldas, nota-se a influência de Théophile Gautier e Leconte de Lisle na precisão formal, no uso da mitologia e na escultura verbal das imagens.
Ao lado de Bilac, Alphonsus de Guimaraens personifica o lado mais místico do Simbolismo, com sonetos marcados por religiosidade e contemplação da morte — elementos que também ecoam a poesia católica francesa de Paul Verlaine.
A França literária e a formação da geração pré-modernista
À medida que o século XX se iniciava, o Brasil começava a buscar uma estética própria. Ainda assim, os ecos da literatura francesa não se dissiparam. A geração pré-modernista, embora voltada para as questões sociais do país, manteve com Paris um diálogo constante — ora de admiração, ora de ruptura.
Lima Barreto, por exemplo, embora crítico da elite intelectual brasileira e do cosmopolitismo vazio, não escapou à influência da tradição realista francesa. Seu romance Triste Fim de Policarpo Quaresma (1915) carrega tons de sátira que podem ser associados à ironia flaubertiana. Lima ironiza não apenas as instituições brasileiras, mas também a própria francofilia acrítica das classes altas.
Segundo o ensaísta Nicolau Sevcenko6, Lima Barreto encarna a tensão entre um desejo de autenticidade nacional e a necessidade de dialogar com uma tradição europeia que ainda ditava o gosto literário e os modelos de excelência.
Já na virada modernista, escritores como Mário de Andrade e Oswald de Andrade se posicionaram frontalmente contra o academicismo francês, pregando a antropofagia cultural — ou seja, a assimilação crítica e criativa das influências europeias. Ainda assim, sua formação e rebeldia também nasceram sob a luz de Paris, centro das vanguardas artísticas e intelectuais do início do século XX.
Um despertar para a Literatura brasileira
A história da literatura brasileira no século XIX é, em grande medida, a história de uma conversa apaixonada com a França. Uma conversa feita de admiração, absorção, crítica e recriação. Ao mesmo tempo em que a literatura francesa forneceu um repertório de estilos, formas e temas que permitiram aos escritores brasileiros pensarem o Brasil, foi justamente esse repertório que muitos de nossos autores conseguiram reinventar com uma singularidade que espanta até hoje.
Machado de Assis leu Flaubert, mas escreveu Brás Cubas. José de Alencar se inspirou em Victor Hugo, mas criou Iracema. Cruz e Sousa reverberou Baudelaire, mas o transformou em símbolo de sua dor de homem negro e poeta num país escravocrata. Cada um, à sua maneira, deu à influência francesa uma voz nova, feita de solo brasileiro, de memória colonial e de sonho republicano.
A literatura francesa não moldou a literatura brasileira — ela a despertou. E, nesse despertar, o Brasil começou a escrever-se a si mesmo com olhos que haviam visto Paris, mas que agora viam o mundo a partir do trópico, com todas as suas contradições, beleza e fúria.
Ler esse diálogo hoje é entender como as culturas se entrelaçam, e como os grandes escritores, mesmo quando se inspiram além-mar, escrevem sempre com o sangue de sua própria terra. E se a literatura é o lugar onde a linguagem se torna amor, podemos afirmar que entre França e Brasil esse amor foi longo, intenso — e ainda hoje pulsa nas páginas que escrevemos.
- Compagnon, Antoine. A Literatura, Para Quê? Tradução de Enéias Tavares. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. ↩︎
- Bosi, Alfredo. História Concisa da Literatura Brasileira. São Paulo: Cultrix, 1994. ↩︎
- Gledson, John. Machado de Assis: Ficção e História. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. ↩︎
- Pereira, Lúcia Miguel. Raul Pompéia: Uma Biografia. Rio de Janeiro: José Olympio, 1945. ↩︎
- Coutinho, Afrânio (org.). A Literatura no Brasil, vol. 3: Do Romantismo ao Simbolismo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1968. ↩︎
- Sevcenko, Nicolau. Literatura como Missão: Tensões Sociais e Criação Cultural na Primeira República. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. ↩︎