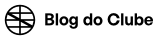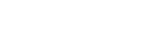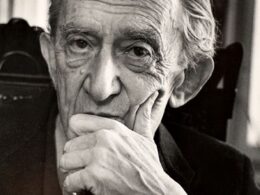Por Bernardo Lins1
Quem foi Virgílio
Virgílio, o poeta mais célebre da antiguidade latina, nasceu em 70 a.C., nas proximidades de Mântua, e faleceu em 19 a.C., quando Augusto era o imperador e Roma vivia sua era de ouro. Não sabemos muito sobre sua vida. Alguns autores antigos afirmam que tinha origem humilde, mas o mais provável é que tenha pertencido a uma família de proprietários rurais que pôde lhe oferecer uma boa educação. Estudou retórica em Cremona, Milão e Roma, e filosofia em Nápoles, com o epicurista Síron, abandonando em seguida uma carreira como orador para se dedicar à poesia.
De sua produção, chegaram até nós três obras: as Bucólicas (ou Éclogas), conjunto de dez poemas pastoris compostos entre 42 e 39 a.C.; as Geórgicas, um poema didático sobre agricultura em quatro livros, escrito entre 37 e 30 a.C.; e a Eneida, seu grande poema épico em doze cantos, no qual trabalhou de 29 a.C. até sua morte, com o qual se tornou o poeta mais importante de Roma.
Virgílio divulgou os poemas que comporiam as Bucólicas gradualmente, ganhando notoriedade crescente por eles. Quando finalmente publicou o livro completo, passou a integrar o círculo de escritores apoiados por Caio Cílnio Mecenas, amigo de Otávio (que depois se tornaria Augusto). Esse círculo literário, do qual também faziam parte poetas como Horácio e Propércio, ficou tão famoso que a palavra mecenas passou à língua corrente para indicar um patrono das artes.
Foi por insistência de Mecenas que Virgílio compôs as Geórgicas, seguindo a tradição da poesia didática estabelecida por Hesíodo e Lucrécio. E foi por sugestão de Otávio, que desejava um poema épico que celebrasse a glória de Roma, que ele começou, em 29 a.C., a escrever a Eneida, épico que narra a fuga de Eneias e seus companheiros após a destruição de Tróia até chegarem à península itálica, as guerras com os povos que habitavam ali e seu estabelecimento na região.
A referência explícita da Eneida à Troia não é fruto do acaso. A intenção de Virgílio era estabelecer uma linhagem mítica que ligasse o povo romano aos heróis cantados pela épica grega. Com efeito, segundo as profecias que aparecem no canto VI, seus descendentes dariam origem à cidade de Alba Longa, cujos habitantes, por sua vez, fundariam Roma. Mas ele também desejava continuar a narrativa poética da Ilíada e da Odisseia, nas quais seu poema é estruturalmente baseado: os seis primeiros livros evocam a Odisseia (as viagens), enquanto os seis últimos ecoam a Ilíada (as guerras). É que uma das fontes criativas fundamentais da literatura latina é a imitatio, que não deve ser entendida como imitação servil, mas como uma forma de emulação, pela qual o poeta tenta superar o modelo imitado ao mesmo tempo em que lhe presta homenagem. É por isso que Virgílio também se inspirou nos Trabalhos e os Dias de Hesíodo para escrever as Geórgicas e nos versos de Teócrito, poeta helenístico do século III a.C., para compor as Bucólicas.
Morte e recepção póstuma
Segundo relatos antigos, Virgílio havia composto a maior parte da Eneida, que já era conhecida parcialmente por um grupo seleto de admiradores (incluindo o próprio Augusto, que ouvira trechos recitados) e ansiosamente aguardada pelo público, quando decidiu viajar à Grécia e à Ásia Menor para conhecer pessoalmente os lugares descritos no poema e dar-lhe os retoques finais. Em Atenas, encontrou-se com Augusto, que retornava do Oriente, e decidiu voltar com ele a Roma. Durante uma visita a uma cidade próxima a Mégara, sob o sol forte, Virgílio adoeceu gravemente. A febre piorou durante a viagem de navio e, já próximo a Brundísio (a atual Brindisi, no sul da Itália), o poeta morreu, não sem antes pedir a seus amigos Vário e Tuca que queimassem o manuscrito da Eneida, por considerá-la ainda imperfeita. Augusto, contudo, não apenas impediu a destruição da obra como ordenou sua publicação integral, e o épico se tornou o mais consagrado dos poemas até então escritos em latim.
Com a Eneida, Virgílio tornou-se um poeta canônico. Suas obras passaram a constituir a base da educação romana, substituindo as traduções de Homero que, com Lívio Andrônico (sua Odisseia), haviam inaugurado a literatura latina. Sérvio Honorato, um gramático do século IV d.C., entendia que sua produção exemplificava perfeitamente os três estilos da retórica antiga: as Bucólicas representavam o estilo humilde, as Geórgicas, o estilo médio e a Eneida, o estilo grandiloquente.
Após certo tempo, Virgílio se tornou objeto de admiração religiosa. Alguns de seus entusiastas começaram a fazer peregrinações a seu túmulo em Nápoles, enquanto outros lhe dedicaram ritos, como se fosse um dos heróis divinizados do paganismo antigo. Mas sua fama transcendeu o mundo pagão. Sua quarta bucólica, que fala do nascimento de uma misteriosa criança após o qual viria uma nova idade de ouro, foi interpretada pelos cristãos como uma profecia do nascimento de Cristo. Por isso, na Idade Média, Virgílio foi reverenciado como um sábio, aparecendo, na Divina Comédia, como guia de Dante na primeira etapa de sua jornada.
As Bucólicas
O primeiro dos livros de Virgílio é conhecido por dois nomes: Bucólicas, derivado do grego boukolikós (relativo aos boieiros, aos pastores de bois), e Éclogas, de eklogé, também um termo grego que podemos traduzir por seleção ou poemas escolhidos.
Para entendermos esses poemas, tão distantes da sensibilidade contemporânea, devemos remontar a Teócrito, que os inspirou. Seus poemas pastorais são chamados idílios (do grego eidyllion, diminutivo de eidos, forma ou imagem), ou seja, são como que pequenas imagens ou quadros poéticos. É precisamente essa a proposta de Virgílio: uma poesia que funcionam como imagem de uma vida em uma Arcádia idealizada, na qual a existência humana transcorre próxima à natureza e se consuma na contemplação, na poesia e no canto.
Podemos falar aqui em sermo humilis (estilo humilde). Apesar de sua beleza, esses versos não tratam das res gestae, dos grandes feitos dos heróis, mas de pastores, agricultores e poetas campestres que trabalham junto à natureza, repousam à sombra das árvores, tocam a flauta de Pan, vivem amores e sofrem desilusões amorosas. As divindades que aparecem nessa obra também pertencem ao panteão menor: não Júpiter, Minerva ou Netuno, mas ninfas, sátiros, e outras divindades associadas ao campo e aos bosques.
Modo de vida
Se é verdade que Virgílio se inspirou em Teócrito, suas Bucólicas, por sua vez, se tornaram o modelo de toda a poesia pastoril da tradição ocidental posterior. Entretanto, o gênero bucólico, mais do que um estilo literário, é um verdadeiro modo de vida poético. Os romanos tradicionalmente reconheciam dois tipos de vida dignos de serem vividos: a que buscava a glória militar ou política, e a que tinha como meta o acúmulo de riqueza material. O que os líricos latinos, como Catulo e Horácio propõem é uma terceira via, uma vida mais simples, dedicada aos pequenos prazeres, o amor, a amizade e a poesia.
Virgílio segue esse caminho, mas de uma maneira mais específica. O que ele canta é uma existência poética marcada por três características: o locus amoenus (lugar ameno), espaço idealizado onde a natureza e a cultura se harmoniza; o fugere urbem (a fuga da cidade), não como mera evasão, mas como busca consciente de um modo de vida alternativo aos valores urbanos; e a aurea mediocritas (a mediania de ouro), a ideia de que uma vida simples pode trazer mais alegria que os extremos de uma existência dominada pela busca de riqueza e poder.
Após Virgílio, esse ideal ressurgirá como alternativa sempre que a vida urbana se tornar excessivamente agitada. Já na Idade Média, quando, no século XIV, as cidades voltaram a crescer significativamente, encontramos uma renovada poesia bucólica em latim, diretamente influenciada por Virgílio, cultivada por autores como Dante e Petrarca. Na Idade Moderna, temos o Arcadismo, movimento literário cujo fundamento era a imitatio das Bucólicas, que tem como marco a fundação da Accademia dell’Arcadia em Roma (1690) e rapidamente se espalha pela Europa.
Em Portugal, o Arcadismo floresceu especialmente durante o período pombalino, no século XVIII, com poetas como Correia Garção e Cruz e Silva. Foi também nessa época que o movimento chegou ao Brasil colonial, onde contou com nomes como Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga e Alvarenga Peixoto. A influência virgiliana tornou-se, por isso, tão profunda na cultura de Minas Gerais que um verso da primeira Bucólica, libertas quae sera tamen (liberdade, ainda que tardia), foi escolhido como lema da bandeira do estado.
Um sentido cósmico
As Bucólicas, no entanto, têm uma segunda camada de significado. Por trás de sua aparente simplicidade, elas constituem, em seu conjunto, uma criação complexa cujo objetivo maior é funcionar, desde uma Arcádia poética, como um microcosmo, um reflexo em miniatura da totalidade do real. Percebemos isso quando analisamos com atenção a disposição cuidadosa dos dez poemas no livro, que revela uma estrutura singular.
Quanto à forma, os poemas se alternam segundo um padrão preciso: enquanto as éclogas ímpares (I, III, V, VII, IX) são todas diálogos, uma forma dramática que pode parecer estranha para nossa sensibilidade contemporânea habituada ao lirismo confessional, as éclogas pares (II, IV, VI, VIII, X) são monólogos ou cantos, expressões líricas diretas dos personagens que habitam a Arcádia de Virgílio.
Quanto ao conteúdo, os poemas se ordenam como pares espelhados: as éclogas I e IX tratam de temas políticos (as expropriações dos campos após a Batalha de Filipos, em 42 a.C.); II e VIII abordam temas amorosos (o amor não correspondido de Córidon e encantamentos amorosos); III e VII são um tipo de disputa poética conhecida como canto amebeu; IV e VI exploram temas cosmológicos e mitológicos; e V e X meditam sobre a relação entre poesia e morte (o lamento por Dáfnis, um pastor mítico que teria inventado a poesia bucólica, e o canto para Galo, poeta contemporâneo a Virgílio e seu amigo, considerado o criador da elegia erótica latina).
O núcleo da obra são precisamente as éclogas IV e VI, que formam o eixo ao redor do qual gira toda a estrutura. A quarta bucólica, o mais enigmático dos poemas do livro, profetiza o futuro com o iminente retorno da Idade de Ouro após o nascimento de uma criança. Já a sexta bucólica olha para o passado primordial. Nela, Sileno, o velho sátiro seguidor de Dionísio, ao ser capturado por dois jovens pastores, promete cantar-lhes um canto em troca de sua liberdade. O canto que entoa, tão belo que até as árvores se inclinam e as feras se aquietam é o relato da criação do mundo desde o caos primordial, passando pelo dilúvio de Deucalião, até as metamorfoses míticas que deram forma ao mundo presente.
Com esses dois poemas, o livro adquire sua dimensão cósmica, na qual a política, o amor, a morte e a poesia encontram sua verdadeira medida. A Arcádia virgiliana não é mera evasão bucólica, mas imago mundi, um símbolo da totalidade do real e da existência humana que nela se situa, o que se manifesta não apenas na sua estrutura geral, mas também no menor de seus versos.
A poesia como profecia
Entendi isso melhor quando preparava algumas aulas sobre as Bucólicas para um curso de Lírica Latina. Refletindo sobre as tradições antigas e medievais que consideravam Virgílio um profeta e a prática das sortes vergilianae, na qual seus versos eram usados como oráculo, resolvi fazer o teste: após pensar em uma pergunta específica, escolhia aleatoriamente um verso qualquer de suas éclogas para usar como resposta.
Os resultados foram extraordinários: os versos de Virgílio de fato ofereciam respostas interessantes a boa parte das perguntas que fiz. Alguns exemplos: à pergunta “o que devo estudar esta semana?”, o verso 45 da quinta bucólica me disse: “teu canto é para nós, ó divino poeta, como o sono na relva aos exaustos, ou no estio a sede saciada em água doce corrente”, uma frase que apontava para o estudo da poesia como fonte de renovação. À pergunta “qual seria um bom plano para este ano?”, na sexta bucólica, verso 10, encontrei: “e se pode esperar, descansa sobre a sombra”, uma clara exortação à uma vida tranquila, tal como a celebrada por Virgílio em seus poemas bucólicos.
Como entender o fenômeno? Não se trata de um poder mágico. A explicação é ao mesmo tempo mais simples e mais profunda. Ezra Pound dizia que poesia é linguagem saturada de significação. Nas Bucólicas, isso ocorre em um nível máximo. Virgílio é um poeta de tal magnitude que cada um de seus versos, que pretendem falar sobre a vida simples no campo, funcionam como uma imagem holográfica do mundo. Existe neles tanta possibilidade de significado, que posso fazer uma pergunta qualquer e abrir aleatoriamente o livro, e o trecho que for escolhido provavelmente estará apto a respondê-la.
As Bucólicas, mostram que, como pensavam os antigos, a poesia, em seu nível mais elevado, é uma forma de profecia. Não por ser capaz de prever o futuro, mas porque a linguagem, quando saturada de símbolo, se transforma em espelho do mundo. Eis o que Virgílio nos ensinou.
- Professor de Grego Antigo na UFMG. Escreve no https://noitesaticas.substack.com/ ↩︎