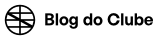Por Wladimir Saldanha 1
Em um dia de 1820, certo poeta romântico dedicou versos a seu amigo ourives, comparando as duas artes, e animando-o a não se apequenar. Diz ali, de início, que a poesia “torna os dias melhores”, assim como a ourivesaria “faz a beleza mais bela”; tais otimismos se perdoam, são próprios do Romantismo. Adiante, afirma também que o espírito de cada um vai na obra, e até convida o amigo a abandonar de vez “a rota traçada”, para ser uma espécie de “mago ourives” e “misturar ouro a pensamento” – bem entendido, menos artesão e mais artista. Em seguida, conduz a analogia para a escultura, pois todo artista faria “jorrar do bloco de pedra” a sua arte.
Noutro dia, já em 1852, mas no mesmo lugar, outro poeta retomou os termos da comparação escultórica, termos aliás antiquíssimos desse tipo de poema – a chamada ars poetica – e os desenvolveu muito mais, deixando clara uma ideia de que a imaginação artística configura sua forma, no sentido próprio de uma formação como configuração: gesto pelo qual se dá contorno e feição. Assim, do bloco de mármore assimétrico e inanimado, por exemplo, pode irromper uma obra de tal modo dotada de vida que possamos dizer: o sonho domou a pedra.2
Em um terceiro dia, agora de 1888 e em outro país, novamente um poeta não se conformou com a solidão de sua arte de palavras, que não se pode usar no dedo ou inaugurar no largo da praça, e voltou a compará-la. Diante dos precedentes anteriores, contudo, esse novo poeta – novo porque terceiro da lista e porque tinha então apenas 23 anos – decidiu, nas primeiras estrofes, rejeitar o paralelo com a arte escultórica, que lhe parecia algo brutal, centrando-se apenas na ourivesaria, muito mais delicada, fina mesmo, que lhe transmitia serenidade. “Deusa serena! Serena Forma!” – exclamou o rapazito Olavo Bilac.
Epigrafou com seu primeiro antecessor, por nome Victor Hugo, mudando o nivelamento fraterno em destaque exclusivo – “o poeta é ourives/ o ourives é poeta”; não se dirigiu, como ele, a outro amigo ourives: já era os dois, já era o Bi. Lá que não ia se apequenar, antes engrandecer muitíssimo; com a ideia de “fazer a beleza mais bela”, algo vaga talvez, retirou o grão de ânimo de que precisava para seus ouropéis, e para se assumir na gana de enfeitar; quanto ao verbo esculpir, não o usou no sentido próprio da arte do escultor, mas unicamente como metáfora daquela modelagem tanto mais subtil, com que melhor se identificava. Ou seja, afastou-se por completo da linha desenvolvida pelo segundo antecessor, por nome Théophile Gautier, um poeta na curva do Romantismo ao Parnasianismo francês.
No país do terceiro poeta, o Brasil de Bilac, seu poema Profissão de fé foi desde então a pedra angular do respectivo Parnasianismo. Mas, evidentemente, estamos diante de valores muito diferentes. (Em muito lugar do mundo se muda o nome da moeda para dólar, e nem por isso o câmbio se convence.)
Lira e antilira no parnaso francês
Julguei pertinente contar essa história de três poetas ao leitor da minha tradução de Baudelaire para afastá-lo de preconceitos modernistas brasileiros quanto ao Parnasianismo. O quebra-quebra ocorrido entre nós, em 1922 e posteriormente, nada tem a ver com o andamento de questões formais da arte poética na França.
Produto final do Romantismo, Baudelaire é considerado, com Gautier e sem controvérsia, no mínimo um dos precursores do Parnasianismo. Contribuiu para a publicação fundamental do Parnasse Contemporain; tinha em Théodore de Banville grande amigo e o considerava “perfeito clássico”; retomou um tema de Gautier no poema “Sonho Parisiense” e ali baniu, como este, o “vegetal irregular” – à irregularidade de uma folha ou flor, seu delírio preferia o mundo mineral. Esse poema, aliás, é muito significativo: terminando pelo despertar do sujeito lírico sob um sol de meio-dia, no mesmo casebre em que morava – longe, portanto, das suntuosidades de pedraria imaginária –, é como se Baudelaire nos dissesse: “Meus castelos só cabem minha dor”.
É preciso ponderar, contudo, que o resto do Parnaso francês não foi tão melindroso como o nosso. Até José María de Heredia, cubano de nascimento, mas reconhecido na França como o maior sonetista de todos os tempos, não se priva de tematizar abertamente a lascívia dos centauros, a alegria pagã com os banhos de sangue ritualísticos, os templos de frontão partido após a decadência do paganismo etc. Não concordo com Mário de Andrade quando escreve, em seu ensaio famoso, Mestres do passado, que Heredia só atinge o ápice no soneto de amor sobre Marco Antônio e Cleópatra – justamente porque ali estaria sendo menos Heredia, isto é, menos parnasiano. É raciocínio útil aos momentos mais passionais de Bilac ou Alberto de Oliveira, mas não se presta ao autor de Os Troféus.
Com relação a Baudelaire, se possui poemas estritamente líricos, como A varanda, já não se vê, nos parnasianos paradigmáticos, nada próximo da antilira de As Flores do Mal: não trouxeram à poesia o grotesco, não puseram mortos-vivos a falar em poemas nem teceram loas a Satã. A novidade baudelairiana é uma intensificação radical do Romantismo anterior; assim, quando a dedicatória do livro louva a maestria de Gautier nas letras francesas, certamente não se deve ler nisso, apenas, um elogio ao virtuose, pois outros tantos havia – Lisle, Banville, etc. Gautier, porém, era um virtuose trânsfuga, irmão do autor.
Toda a antilira que Baudelaire veiculou na forma parnasiana, principalmente no verso alexandrino, com rimas ricas, rimas de homófonos e nomes próprios, foi beneficiada por essa mesma forma. Na França, o Parnasianismo resgatou recursos anteriores ao Classicismo do século XVIII, como a homonímia, banida pelo efeito de humor e por isso chamada de rima equívoca. Manipulando esse arsenal, não existe em Baudelaire a atitude exibicionista de quem enfeita. Tudo significa algo mais do que está dito, pela forma com que é dito. Uma rima recorrente como beau e tombeau (“belo” e “tumba”, literalmente), chamada nos manuais de “rima opulenta”, no contexto de As Flores do Mal sinaliza a transformação alquímica da lira em antilira. A diretriz vai expressa, sob forma de ars poetica – tal como a Profissão de fé, de Bilac – no sonetilho “Alquimia da dor”, onde se mostra oposta a qualquer pedra filosofal: transformaria, não ferro em ouro, mas ouro em ferro.
E, por que essa inversão? Para chocar, épater les bourgeois? Isso é que não. Baudelaire muito lastimou a falta de reconhecimento, quando o poderia ter tido fácil, caso se mantivesse nos estritos limites do lirismo.
Um memento mori moderno
Voltando à concepção de poeta como escultor, desenvolvida por Gautier, é possível situar o gesto antilírico de nosso poeta em seu profundo compromisso com uma verdade artística por ser dita, a do feio – seja o feio das velhas que vagavam nas praças, seja o feio da dor humana de um grande vazio sem causa precisa (ennui), levando o sujeito à prostração incapacitante (spleen), ou aquele feio, tido por belo, da grande reforma de Napoleão III, que removeu de Paris as ruínas da antiga cidade medieval, abrindo largos bulevares sem memória.
Essa irrupção do feio também traz à tona o imoral – prostitutas, sem nenhuma idealização da prostituição; o injusto – desvalidos simplórios, em face de canalhas bem-sucedidos; e até ladrões e assassinos. Junto a todos, o próprio poeta, irmão dos párias, que Baudelaire, sem dúvida aderindo ainda a seu traço romântico, tematiza em geral e autobiograficamente desde o poema “Bênção”, no início do livro. À diferença do Romantismo, contudo, não se trata apenas do chamado malheur du poète (infortúnio do poeta, como se vê na obra de um Vigny), quanto do reconhecimento do desprestígio da poesia na Modernidade.
Dirá essa constatação, em prosa, como sendo a “perda da aura” do poeta. Isto é hoje muito citado nos institutos de Letras brasileiros. Mas, a sequência da divagação também diz que essa aura, tendo caído no lodaçal, será resgatada de lá por imbecis, os quais a usarão com muito garbo. E que ele, Baudelaire, vendo a coisa toda de algum lugar, rirá largamente.
Sobre o arco que vai do abandono à melancolia e, desta, à devastação da memória urbana em nome da Modernidade, passam seres decrépitos, animais ferozes e, sobretudo, mortos-vivos. Como chamo a atenção no Prefácio da tradução, Baudelaire tem a peculiaridade de não tratar dos mortos em estado propriamente espiritual: não são fantasmas, mas entes próximos de uma concepção egípcia, múmias meio vivas pela alma que é o corpo; ou, usando agora imagem mais pop, digamos que os mortos de Baudelaire são zumbis.
Ao fazer isso, o poeta se vale de uma técnica literária conhecida como “estranhamento”. Essa técnica, teorizada pelo russo Viktor Chklovski, pretende perturbar o modo como o leitor apreende ordinariamente o mundo. Assim, no soneto Remorsos Póstumos, por exemplo, a tumba indaga uma cortesã morta sobre o que andara fazendo em vida, pois que nunca se perguntava o motivo do choro dos mortos. Isso faz supor que a morta poderia ouvi-la, e que os demais mortos frequentemente choram… Do mesmo modo, em A Carniça, o poeta pede à amada o favor póstumo de dar um recado ao verme que primeiro “beijá-la”! O efeito estético é poderoso – parece demonstrar, avant la lettre, o verso de Álvaro de Campos: “Nosso medo da morte é o de sermos enterrados vivos”.
Articulando tal expediente criativo à multidão de párias que vagam em As Flores do Mal, entendo como propósito maior de Baudelaire o de compor um imenso memento mori moderno. Para tanto, valeu-se do cânone parnasiano, engendrando tensão única entre forma e conteúdo, em contraste com a expectativa lírica – por isso, ainda nos comove e enoja.
O mal necessário
Para um projeto assim, não soa nada impróprio que Satanás tenha sido arregimentado. Ele, antes o mais belo dos anjos, tornara-se pela revolta o maldito: vermelho, rabudo, chifrudo. Como signo ou símbolo, muito mais do que apenas de revolta (seja mística ou de metáfora política), Satã encena a imperativa descida do Parnaso aos Infernos.
Quero dizer com isso que, muito ao contrário do que faz parte da crítica, pretendendo acentuar no Satã de Baudelaire apenas o caráter político, a partir da inegável revolta, o seu Satã, sendo metafísico, é fundamentalmente uma metáfora estética, a da necessidade de dizer do feio e do grotesco, o que faz da descida aos Infernos uma urgência do chamado “estado da arte”, isto é, do momento em que a roda literária girava naquele instante. Para além disso, resiste ainda, em sua capacidade de reiterada ressignificação.
Sei muito bem que essa é uma leitura isolada de um tradutor brasileiro. E que a situação da poesia, no Brasil e no mundo, não é das melhores, França inclusive. O verso livre, se ali foi-se urdindo lentamente, naquela caminhada de Romantismo a Parnasianismo e o que viria após, como o pré-Simbolismo de Verlaine e as primeiras experiências com medidas variadas por Rimbaud; se enfim se tornou propriamente uma nova categoria de verso, no Simbolismo, que por lá foi uma escola de laboratório e invenção, com a prática amiudada de rimas toantes, supressão de pontuação e dicção mais sugestiva (Mallarmé); enfim, se hoje o verso livre, ao menos o de linha francesa, conta cerca de 140 anos, parece mais um velhinho surdo, manco e de memória comprometida.
No Brasil, mal se lembra do prenome, “verso”. Mas, na verdade, aqui as coisas já vinham piores, se lembrarmos que Gustava Kahn, um dos supostos pais do verso livre, estreava em 1887, enquanto Bilac só lançaria no ano seguinte, 1888, a sua Profissão de fé de ourives. Compreende-se bem que o Modernismo de 1922 tenha precisado do espalhafato que fez, até porque os bons tempos da Joalheria Bilac haviam passado, e o que tínhamos então eram subparnasianos de bijuterias, nos cadernos dominicais.
Era mesmo necessário que um Oswald de Andrade falasse dos sonetistas como infectados pela bactéria sonetococcus brasiliensis, mas o remédio viciou – não se pode, no Brasil, em certos círculos, praticar formas fixas, e pior se for soneto; não se pode defender o uso da forma em benefício da expressão poética, o chamado “grito transfigurado” de que nos fala Cecília Meireles. O debate reduziu-se a uma prevenção, e por essa prevenção só existe poesia em verso livre, sendo que por verso livre se entende qualquer coisa não alinhada em sequência contínua de prosa.
Trabalhando mais discretamente, alguns poetas praticam o mesmo verso livre com sentido rítmico, propriedade e colorido vocabular, interrompendo a dicção, não de forma aleatória, mas a fim de provocar algum efeito de sentido; outros tantos também praticam formas fixas, renovando-as, seja pelos temas, seja pela reinvenção técnica, ainda que pontual. A esse pequeno grupo, em uma antologia de poesia contemporânea brasileira que traduzi para o francês, chamei de Underground estético, tomando a expressão de empréstimo a Harold Bloom. Houve uma tentativa de fazer a velha confusão entre política e estética, muito cara ao Brasil: poesia afinada com tradição seria conservadora e de direita, enquanto poesia progressista e de esquerda há de ser vanguardeira e versilibrista.
Por isso, quando agora entrego aos leitores um Baudelaire traduzido com respeito aos cânones parnasianos do original, já me adianto na conjura, em francês mesmo, para que soe familiar – Ô Satã, prends pitié de ma longue misère!
***
A ARTE
Sim, mais bela obra avia
Uma forma que a paute
Bravia,
Mármor, verso, ônix, ’smalte.
Nada de regra falsa!
Mas, para andar direito,
Só calça,
Musa, um coturno estreito.
Receia o ritmo fácil,
Passo demais folgado:
Entrasse o
Pé, saía o calçado.
Escultor, sobra argila
A tirar, quando o dedo
Premi-la,
Se a mente fez degredo;
Labuta com carrara,
Pedra alabastro, dura
E rara,
Titãs da linha pura.
Bronze de Siracusa
Toma, pois firmemente
Abusa
Do ar garboso e atraente.
Delicada mão traga-te
O filão, no subsolo
De ágate,
Com o perfil de Apolo.
Pintor, larga a aquarela,
E prende a frágil cor
Que é dela
Com forno esmaltador:
Lá, sereias que escaldas,
Azuis, deem cem torções
De caudas
Nos monstros dos brasões.
Em seu trevo rotundo,
A Virgem e Jesus,
O mundo,
Tendo por baixo a cruz.
Tudo passa. Mas, justo
Da arte é a eternidade.
O busto
Sobrevive à cidade.
E a medalha austera,
Que encontra o lavrador
Na eira,
Traz um imperador.
Até os deuses morrem.
Mas, versos soberanos
Acorrem
Mais que os bronzes – sem danos.
Esculpe, lima, entalha;
Que teu sonho vogante
Sinale a
Pedra mais relutante!
Théophile Gautier, traduzido por Wladimir Saldanha.
- Tradutor de As Flores do Mal. Como poeta, é autor de seis livros autorais, tendo recebido o prêmio da Academia Pernambucana de Letras por Natal de Herodes. Organizou e traduziu uma antologia de poesia belga francófona, A Tentação das Nuvens, e outra, de poesia contemporânea nacional traduzida para o francês, Poesia Brasileira em Contracorrente. Ex-colaborador de crítica de poesia do Jornal Rascunho e doutor em Teoria Literária pela UFBA. ↩︎
- Deixo ao final uma tradução minha, inédita, desse poema. Note-se como a analogia entre as artes é feita discretamente, no último verso da primeira estrofe.
↩︎