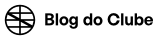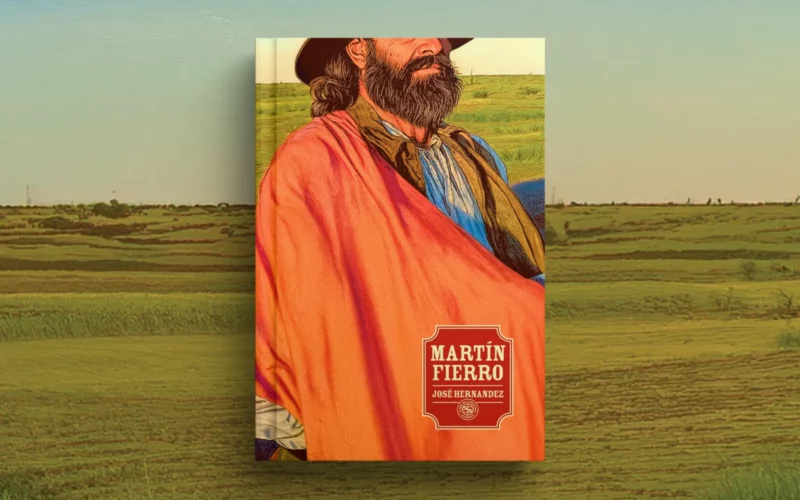Por Gabriel Andrade Adelino1
Martín Fierro é um desses casos raros em que a literatura não apenas imita a vida — ela a inventa. O poema de José Hernández acabou virando a alma da Argentina em forma de verso. Neste ensaio, vamos destrinchar como um anti-herói meio bruto, meio filósofo, virou símbolo nacional; por que um passado que nunca existiu passou a ser lembrado com saudade; e o que tudo isso diz sobre o estranho hábito que nós temos de se agarrar a mitos e símbolos para saber quem somos.
A vida é curta demais para ler tudo, e longa demais para ler só o que se entende. Por isso existe a literatura. Ela nos empresta vidas que nunca viveremos, problemas que nunca entenderemos, dores que não são nossas e nostalgias que nos alcançam por contágio. Um bom livro é uma ponte entre a nossa experiência imediata e acessível e a possibilidade de encontro com uma cultura ou modo de viver completamente estranhos a nós. E é essa ponte, pode-se dizer, que nos dá acesso ao que se popularizou como formação do imaginário. Lê-se para conhecer o mundo, claro, mas também para reconhecê-lo.
Wilde dizia que a arte não deve possuir utilidade prática; desconfiava de qualquer tentativa de submetê-la a uma função moral, educativa ou social. No entanto – pedidas as devidas licenças às opiniões do citado –, não seria exagero dizer que a boa arte, especialmente a boa literatura, serve para algumas coisas, como elevar nosso gosto e senso estético, ordenar os pensamentos, consolar o desespero ou rir da desgraça. Ela também serve, sobretudo, para revelar o humano. E o humano é, por definição, contraditório, trágico, incoerente, sentimental e quase incompreensível. Os grandes autores sabem disso – não à toa a conclusão de Wilde é que, justamente por ser inútil, a arte é indispensável.
É por isso que obras como Martín Fierro, do argentino José Hernández, sobrevivem ao tempo, ao tédio escolar e às ideologias de ocasião. Trata-se de um poema publicado em duas partes (1872 e 1879), que narra a queda e o exílio de um homem comum, um gaúcho dos pampas, empurrado para fora do mundo pelo mesmo Estado que dizia protegê-lo. É uma história de injustiça, de fuga, de luta e de canto. Mas é, acima de tudo, uma tentativa de capturar uma cultura inteira em forma de versos. E, para o bem ou para o mal, conseguiu.
A Argentina encontrou em Martín Fierro uma espécie de bíblia laica — um mito fundacional que, mesmo nas suas contradições, ajudou a definir uma identidade nacional. E ainda hoje, quando o lemos com olhos estrangeiros, percebemos algo raro ali, uma epopeia sem deuses, uma odisseia de pobres, uma ilíada de improviso (o leitor curioso que pesquisar pelo título da obra no YouTube, encontrará uma belíssima declamação, em canto, dos versos da obra em espanhol; uma experiência única, há de se dizer).
É esse o tipo de livro que nos interessa aqui. Não porque ele nos seja familiar — mas precisamente porque não é. Ler Martín Fierro é viajar para uma Argentina rural e extinta, onde a justiça era feita a facão, os versos vinham no ritmo do gado e a liberdade era pintada com poeira e sangue de traição. É um livro que nos dá acesso a outro mundo — e por isso nos ajuda a enxergar melhor o nosso.
Aqui, vamos tentar entender como ele virou símbolo de um país inteiro — e por que ainda vale a pena lê-lo, mesmo para quem nasceu longe dali. Afinal, se a literatura é memória, então Martín Fierro é o esforço de um homem, ou de um autor, tentando não esquecer.
A formação de um símbolo
Diz-se que há 80 ou 90 anos, os leitores de Martín Fierro eram tão numerosos quanto são agora os de Colleen Hoover. Na Argentina, a obra estava nas escolas, nas notas de rodapé, nas mãos suadas dos nacionalistas e nas citações eruditas dos literatos. Não há figura que tenha sido tão cooptada, lida, relida, idolatrada e discutida quanto ele. É o símbolo do “ser argentino”. E, como todo símbolo, Fierro é mais útil quanto mais contraditório for. É herói e criminoso, vítima e algoz, poeta e bruto, mártir e malandro.
Supostamente criado com o objetivo de revelar e exaltar a figura do gaúcho argentino, para ao final transformá-lo de marginal em herói nacional, Martín Fierro é uma dessas figuras que atravessam a história sem pedir licença, sem mapa e sem medo de se perder. Ao escrever seus versos, José Hernández queria denunciar uma injustiça, cantar uma cultura em extinção e, talvez sem saber, construir uma mitologia nova para um país ainda em formação. Conseguiu tudo isso — e um pouco mais.
A obra acompanha a trajetória de um homem simples, arrancado à força de sua vida nos pampas para servir em um destacamento militar de fronteira. Depois de desertar, ele passa a ser perseguido como criminoso, vivendo à margem da lei, enfrentando injustiças, combates, perdas e deslocamentos. No primeiro livro, Fierro é um rebelde que canta sua dor em versos improvisados, misto de lamento e resistência. No segundo, reencontra um antigo companheiro, Cruz, e inicia uma nova jornada, agora marcada pela tentativa de reintegração à sociedade e pelo desejo de transmitir sua experiência aos filhos. O tom épico permanece, mas cede espaço a um gesto mais reflexivo, quase pedagógico. Ao final, o homem que outrora fora símbolo de insubmissão se transforma num conselheiro amargo, marcado pela derrota e pelas mudanças do país, tentando salvar os filhos do mesmo destino que o condenou.
Quando o argentino publicou a primeira parte da obra, o país ainda fermentava seu projeto de identidade nacional. A independência da Espanha era recente, mas os dilemas da colonização estavam longe de se resolver. A aristocracia portenha ainda sonhava com a Europa, enquanto o interior — vasto, rude e mestiço — exigia ser levado a sério. O gaúcho, essa figura meio nômade, meio fora-da-lei, era ao mesmo tempo símbolo de liberdade e obstáculo à modernização.
Diante desse contexto, a obra é tanto um retrato social quanto um gesto estético de resistência. O que Hernández fez foi transformar em arquétipo a história de um injustiçado. Criou um herói à altura da terra que pisava, um homem solitário que luta com palavras improvisadas e uma faca no cinturão. Se a modernização vinha pelas ferrovias, Fierro vinha da poeira dos pampas.
Não é por acaso que a figura de Fierro logo se cristalizou no imaginário coletivo. Para os argentinos — e sobretudo para os gaúchos —, ele passou a representar, para além de um passado idealizado, um modo de ser; deu voz aos milhares de homens comuns que, assim como ele, foram obrigados a lutar pelo Estado em uma guerra que não era sua. É o irmão distante do cowboy americano, o primo literário do cangaceiro. Nas escolas, virou lição; nas rodas de mate, virou modelo. Ainda hoje há quem cite seus versos como quem recita a Constituição.
A genialidade de um artista se reconhece aí: quando tudo ao redor parece esmagar seu povo, ele simplesmente, como quem não quer nada, escreve uma epopeia. E com isso, além de denunciar uma injustiça, acaba inventando um mito, desenhando um rosto que representava seus iguais, fundando uma linguagem compreensível por uma Argentina quase toda iletrada. Enquanto isso, nós — diante das mesmas injustiças, das mesmas humilhações burocráticas, das mesmas ordens que vêm de longe — às vezes só conseguimos reclamar com o vizinho ou, na melhor das hipóteses, transformar a queixa em meme. Talvez esteja aí um dos motivos para sermos tão pouco lidos lá fora: ainda não aprendemos a contar nossa desgraça com alguma criatividade.
O paraíso perdido
Jorge Luis Borges, no entanto, desconfiava da tentativa de transformar Martín Fierro em um ídolo. Para ele, elevar o protagonista à condição de símbolo nacional era uma forma de esconder sua ambiguidade, como se a força do livro estivesse na pureza da causa, e não na complexidade do personagem. Fierro não é herói no sentido clássico. É um homem desgastado, impelido à violência, marginalizado pelo Estado, vítima e carrasco ao mesmo tempo. Se canta, é porque falar já não basta. Se a Ilíada começa com a cólera de Aquiles, o poema de Hernández começa com a perda do lar tomado, da liberdade destruída, da dignidade cuspida no chão. Sua epopeia não é a da conquista, mas da derrota. Não há glória no final.
A grandeza da obra talvez esteja nessa representação de um homem comum. Em vez de um herói exemplar, Hernández nos oferece um exilado que calhou de se tornar um símbolo. Um homem que erra, foge e sofre, como todos nós. É curioso como, até hoje, as histórias que mais nos entretém são de rebeldes, anti-heróis ou homens que são corajosos o suficiente para buscar aventuras que uma parte inconsequente de nós sempre quis viver. Parece haver em nós uma inclinação natural para esse tipo de narrativa. Como diz o poeta, sentimos uma espécie de saudade ou nostalgia de algo que nunca vivemos; de histórias e narrativas distantes da nossa possibilidade.
Quer saber mais sobre Dom Quixote? Leia nosso artigo sobre a obra!
Martín Fierro e Dom Quixote: heróis fora do lugar

Esse desejo, no entanto, não é novo. Ele está, também, em Dom Quixote. Ali temos alguém deslocado, um homem que já não pertence ao seu tempo. O fidalgo manchego, alimentado por livros de cavalaria, acredita numa ordem moral que o mundo esqueceu. E sai em sua cruzada particular para restaurá-la, sem perceber que o mundo não só mudou, como ri dele pelas costas. Martín Fierro, por sua vez, também está fora do lugar. Não acredita mais em nenhuma missão — sua luta não é por justiça universal, mas por sobrevivência. Enquanto Quixote é um idealista anacrônico, Fierro é um cético ressentido. Mas ambos se movem por códigos obsoletos. O primeiro fala em honra, o segundo canta em payadas. Um investe contra moinhos, o outro contra um sistema. São, cada um a seu modo, heróis trágicos.
Essa condição anacrônica é, curiosamente, o que os torna personagens tão verossímeis. Quixote e Fierro encarnam um tipo de melancolia que nos é familiar, a sensação de que o mundo como deveria ser foi perdido, e que tudo que resta é um combate contra o presente. Ambos, em sua loucura ou desespero, procuram restaurar uma espécie de era de ouro — um tempo de códigos claros, de gestos nobres, de violências compreensíveis. E nós, leitores, seguimos fascinados por esse esforço.
Quantos de nós não nos pegamos dizendo as mesmas coisas? Que os filmes já não são como antigamente. Que os livros perderam a força. Que o gosto da comida mudou. Que a elegância morreu. Que a seleção brasileira já era. Vivemos repetindo que tudo piorou, como se o paraíso tivesse sido perdido da última geração para a nossa — e não no Éden. Os gregos tinham sua Idade do Ouro, os portugueses tinham a Atlântida, e nós temos, sei lá, o Brasil dos anos 70. E quanto mais o tempo passa, mais essa nostalgia cresce.
Mas é aí que mora a tragédia. Porque essa era de ouro talvez nunca tenha existido. O Éden não voltará mais. Hernández, ao compor a figura de Fierro, parecia acreditar que sim — que houve um tempo em que os gaúchos viviam com mais dignidade, quando o campo não era invadido pelo progresso e as regras eram mais justas. Borges, em seu O Martín Fierro, desfaz esse encantamento:
“Já se disse que José Hernández quis contrapor a vida feliz das estâncias no tempo de Rosas à decadência e à desolação de seu tempo, e que essa contraposição é inteiramente falsa, porque os gaúchos nunca tiveram uma idade de ouro como a que ele descreve. Seria o caso de responder que sempre exageramos as felicidades que perdemos, e que, se o quadro não é fiel à realidade da história, sem dúvida é fiel à nostalgia e ao desalento do cantor.”
(O Martín Fierro, Jorge Luis Borges)
É uma chave de leitura incômoda. Hernández, Fierro, Quixote — todos parecem movidos pela ilusão de que o passado foi melhor. E nós, leitores, compartilhamos dessa ilusão, porque ela nos consola. Nos dá a impressão de que o mundo está errado agora, mas já esteve certo. Essa ideia, tão antiga quanto batida, já virou tema recorrente até em Hollywood. Meia-noite em Paris, de Woody Allen, constrói uma comédia inteira sobre essa inclinação romântica, apenas para desmontá-la no final. O filme ironiza a ideia de que toda geração acredita que a anterior viveu num tempo mais puro. O protagonista, que idealizava os anos 1920, descobre que os artistas daquela época, por sua vez, idealizavam a Belle Époque, que por sua vez sonhava com o Renascimento, e assim por diante. É um ciclo infinito de engano melancólico.
A Bíblia mesmo já advertia contra isso: “Nunca digas: Por que foram os dias passados melhores do que estes? Porque não provém da sabedoria esta pergunta.” (Eclesiastes 7:10). Esse tipo de nostalgia não é memória — é fuga. Hernández, talvez sem perceber, escreveu uma canção belíssima sobre uma perda que nunca aconteceu. Fierro lamenta a destruição de um mundo ideal, mas esse mundo era um artifício poético, não uma realidade histórica. É a mesma armadilha que envolve Quixote na dor pela ruína de um código de honra que nunca foi exatamente como ele imagina.
No fundo, todos queremos acreditar que houve um tempo mais limpo, mais justo, mais claro. E é isso que torna Fierro e Quixote tão próximos de nós. Mas também é o que os condena — e nos condena — à desilusão inevitável.
O que resta do herói
Martín Fierro encerra seu poema em tom resignado. Já não é aquele sujeito rebelde, mas um homem gasto, que aconselha os filhos com a sabedoria de quem viu o mundo pelo avesso. Essa resignação não é apenas do personagem, mas do próprio leitor, que chega ao fim da narrativa sentindo que aquilo que começou como um canto de revolta terminou como um lamento. O herói sobrevive, sim — mas à custa de sua esperança.
E então, se Fierro é tão argentino, por que nós, brasileiros, deveríamos lê-lo?
Talvez porque, quanto mais estranha nos parece uma história, mais ela nos forma. É no contraste que o pensamento amadurece. Uma obra como Martín Fierro nos empresta um outro idioma simbólico, uma outra geografia da alma, um outro modo de enxergar o mundo. A leitura nos oferece isso, não apenas informação, mas formação; não apenas cultura, mas imaginação. Conhecer o drama de um gaúcho dos pampas é também conhecer, por reflexo, o drama de qualquer homem diante do tempo e da injustiça.
E porque, no fim das contas, boa literatura nunca é demais. E quando é realmente boa, ela não conta apenas a vida de personagens fictícios — mas a nossa própria história. Ao conhecer a figura do gaúcho errante, do poeta injustiçado, do homem em conflito com seu tempo, entramos em contato com algo universal, e também pessoal. Descobrimos, por contraste, quem somos. E percebemos que a distância entre o pampa e o sertão é menor do que parece.
A boa literatura é como Fierro bem diz: “O que pinta este pincel / nem o tempo há de apagar”.
Para conhecer mais sobre a obra, acesse nosso conteúdo especial no YouTube!
Martín Fierro é nosso livro de abril aqui no Clube de Literatura Clássica. Garanta seu box aqui!
- Gabriel é redator, publicitário e roteirista. ↩︎