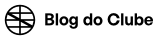Por Carlos Heitor Cony
Necessária a constatação inicial: Oscar Wilde, principalmente no romance que leva o nome de “O Retrato de Dorian Gray”, foi mais do que nunca um discípulo de Walter Horatto Pater, o criador da estética hedonista. Mais tarde, Pater até certo ponto renunciaria a alguns antecedentes e às muitas consequências de suas doutrinas e a prova disso é a eliminação, nas edições seguintes, de seu posfácio ao livro “Studies in the History of the Renaissance”.
Mas de uma certa maneira, a estética de Pater não ficaria livre do superficial resumo feito por Oscar Wilde: o prefácio de “The Picture of Dorian Gray”. Não bastando o prefácio, Oscar Wilde introduziu neste seu romance um personagem que trocou em miúdos – nem sempre originais – os principais pontos desta estética hedonística, tal pelo menos como Wilde a compreendeu e a exercitava não apenas em sua obra mas em sua própria vida.
Tampouco deve-se esquecer outra constatação necessária: o gênero fantástico estava em moda. De certa forma, sempre esteve em moda nas chamadas literaturas maiores. Contemporâneo de Wilde foi Robert Louis Stevenson com o seu “O Estranho Caso do Dr. Jekyll e de Mr. Hyde”.
Este gênero fantástico que atingiu um Goethe, que teve em Hoffmann um especialista, que sobreviveu em Henry James e que deu oportunidade a Swift para a sua obra-prima (“Viagens de Gulliver”), chegou a Oscar Wilde através de um afluente mais aproximado: “A Pele de Onagro”, de Honoré de Balzac.
O escritor Oscar Wilde estava suficientemente escorado para fazer o seu romance. E o homem Oscar Wilde sentiu-se escorado e encorajado para escrevê-lo. A difícil fase do processo criminal que o condenou estava longe ainda e Wilde podia escandalizar e ridicularizar a sociedade inglesa.
Esta sociedade, ao mesmo tempo em que exasperava o futuro autor do “De Profundis”, não levava a sério o seu bobo da corte, o seu Petrônio de Dublin: o próprio Wilde. Inconscientemente, para se vingar do título de árbitro, Petrônio escreveu o “Satiricon”. Wilde escreveu “Dorian Gray”.
Literalmente, o romance resiste, tal como o seu autor, cujas peças continuam fazendo parte do repertório internacional. Wilde é responsável por alguns dos mais belos versos da língua inglesa.
A “Balada do Cárcere de Reading”, além de seu valor social, é um poema que fica. “Salomé”, como disse Otto Maria Carpeaux, sobrevive não apenas pela música de Richard Strauss. E Dorian Gray aí está, editado e reeditado em quase todas as línguas do mundo, provocando não mais escândalo, como em sua época, mas a admiração de muitos e o respeito de todos.
Wilde pertence à categoria dos autores revistos. Imediatamente ao seu processo e logo após a sua morte, foi dado como escritor menor, cuja obra se perderia no dandismo intelectual que o século 20 refugou e esqueceu. Mas vieram as revisões e gradativamente Wilde recuperou seu papel de intérprete de um tempo e de um modo de viver. Merece o nome e a glória que a condição de autor confere a alguns poucos. Não é um árbitro, como Petrônio. Wilde é mais do que um retrato no plano da grande literatura.
Dorian Gray não é um livro original, em plano e essência. Balzac, em “A Pele de Onagro”, e Stevenson em “Dr Jekyll e Mr Hyde”, fizeram obras semelhantes e, pelo menos no caso de Balzac, maiores. Mas a obra wildeana consegue viver à própria custa, graças aos estonteantes recursos literários que o consagram.
O leitor mais amadurecido talvez se canse dos paradoxos forçadamente brilhantes de Lord Henry, um conselheiro Acácio às avessas, inglês e não português, inteligente e não estúpido como o personagem de Eça, que na realidade era uma caricatura. A diferença é que Wilde fez do personagem o porta-voz dele próprio e de Pater.
E a fantástica aventura do jovem londrino que encontrou em sua beleza a sua própria miséria, se tem, por um lado, um aspecto moral muito óbvio para merecer a categoria de símbolo, por outro tem a força de um libelo. Libelo contra as sociedades que geram, em seus monturos de mitos e modas, o monstro repugnante do qual Dorian Gray é um retrato inapelável e cruel.