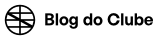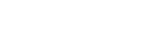Por Gabriel Andrade Adelino 1
Introdução – Confissões de um divã
“Enquanto sobre a terra houver ignorância e miséria, livros como este não serão inúteis.”
Victor Hugo, Os miseráveis
E não foram.
Ao menos para mim, não. Cresci em uma família que nunca soube muito bem o que fazer consigo mesma. Mudanças repentinas, pressão financeira, problemas que começavam e acabavam com a mesma rapidez com que vinham as más notícias. Havia sempre um grau de instabilidade no ar, como se a qualquer momento alguém fosse anunciar que seria preciso mudar de cidade, de escola, de casa ou de planos. Eu era uma daquelas crianças que não sabiam muito bem onde estavam, nem o que podiam esperar do dia seguinte. Gente assim, desorientada desde cedo, aprende a buscar abrigos temporários. E o meu, por algum acaso que até hoje não sei explicar direito, foi a literatura.
Não que eu tenha começado por Victor Hugo. O que veio primeiro foram outras histórias, bem mais modestas. Mas, quando finalmente cheguei a Os Miseráveis, o efeito foi outro. Era como se alguém, do outro lado de um século e de um continente, tivesse me explicado com paciência que o mundo é mesmo feito de injustiças grandes demais para que um só indivíduo possa resolver. E que, ainda assim, a gente segue tentando.
Por algum tempo, achei que essa experiência era só minha. Até que conheci o mundo da crítica literária, com textos de autores muito mais inteligentes que jamais serei, e que escreviam sobre os livros que eu gostava com a sabedoria que eu precisava para entendê-los melhor. Assim, tropecei num livro chamado A Tentação do Impossível, escrito por Mario Vargas Llosa. Ao lê-lo, entendi que minha história com Os Miseráveis não era tão particular assim. Llosa, em outro tempo e outro país, passou por algo semelhante. Descobri, ali, que havia uma leitura possível de Hugo que ia além da devoção ou da análise acadêmica. Uma leitura feita por gente que, por diferentes motivos, precisou de alguma ficção para aguentar a vida real.
O livro de Llosa, como tudo que o autor peruano escreveu, teve grande impacto na forma com que eu enxergava a crítica literária. Assim, me pareceu interessante apresentar ao leitor desse texto as ideias de Llosa em forma de notas pessoais. O que segue, portanto, não é uma crítica, no sentido tradicional da palavra, mas anotações sobre os meus três capítulos preferidos do livro. E minha esperança é que talvez, você, leitor, veja a crítica literária como uma espécie de diálogo entre suas impressões e as opiniões de mentes mais atentas à função da arte.
Parte I – O divino estenógrafo
No primeiro capítulo do livro, Llosa tenta mostrar que a sensação de que Victor Hugo criou um mundo inteiro do zero não nasce só da extensão desproporcional de Os Miseráveis, como também da figura onipresente que insiste em lembrar ao leitor quem é o verdadeiro protagonista da história: o narrador. Ele faz uma provocação direta: “O personagem principal de Os Miseráveis não é monsenhor Bienvenu, nem Jean Valjean, nem Fantine, nem Gavroche, nem Marius, nem Cosette, mas sim aquele que os conta e inventa, um narrador linguarudo que surge continuamente entre as suas criaturas e o leitor” (p. 16)2.
Não há avanço da trama sem uma pausa para um comentário moral, uma digressão histórica, uma intervenção filosófica ou um desvio sentimental. O narrador é um personagem tão vaidoso quanto os que cria. Ele tem consciência de sua onisciência e, mais do que isso, prazer em exercê-la. Esse narrador não só sabe tudo, como precisa que o leitor saiba que ele sabe tudo. E quando, em algum raro momento, finge ignorância ou dúvida, o faz como quem distribui migalhas de verossimilhança para manter o público entretido. Llosa cita como exemplo o episódio em que o narrador confessa não saber como Valjean entrou em seu próprio pátio: “‘Este ponto nunca foi esclarecido’” (p. 19), escreve Hugo, com uma inocência que não engana ninguém.
Llosa vê nessa exuberância verbal uma expressão da ambição desmedida do romance. O narrador interrompe o curso da ação para comentar sobre geografia, religião, política, arquitetura, estatísticas de crime e até a história das ordens religiosas de Paris. É um narrador que não aceita deixar um só canto do seu mundo ficcional sem uma anotação pessoal. Llosa escreve: “Ele conta, ele tem provas e as mostra: ele é o tronco do qual brota a frondosa ramagem anedótica e teórica, a floração de personagens e ideias, é ele quem funda e entrelaça essa rica linhagem” (p. 25).
A onipresença narrativa atinge extremos quase cômicos. Na descrição do reencontro de Marius e Cosette, o narrador avisa que não irá descrevê-lo porque “o sol é uma dessas coisas que não se podem descrever”, apenas para, nas linhas seguintes, descrevê-lo em detalhes minuciosos. Llosa observa, com humor, essa contradição: “Prestidigitador de palavras, é bem capaz de fazer o que diz que não fará e de não fazer o que diz que fará” (p. 20).
Essa vontade de dizer tudo, de explicar tudo, de iluminar cada canto da história com o foco de sua própria consciência, cria um efeito de totalidade. Hugo parece querer dar ao leitor, nas palavras de Llosa, a impressão de um “mundo completo, de uma realidade configurada em sua totalidade” (p. 24). Há uma certa grandiloquência infantil, ou uma seriedade solene demais para os padrões modernos, mas que acaba por fazer parte do próprio encanto do livro.
Llosa é generoso ao reconhecer que, sem essa proliferação de palavras, Os Miseráveis provavelmente não teria sobrevivido ao tempo com a força que tem. “A quantidade é um dos ingredientes da qualidade do romance”, ele afirma, numa inversão deliciosa das ideias correntes sobre economia narrativa (p. 24).
Ao final, a impressão que fica é de que esse narrador é, de fato, um personagem à parte, talvez o mais interessante de todos. Sua tagarelice constrói a atmosfera, sua insistência em se exibir confere ritmo, e sua pretensão de verdade cria, paradoxalmente, a ilusão mais poderosa de todas: a de que, por trás da grandiosidade e das contradições, existe uma sinceridade literária inabalável. Llosa resume esse fenômeno ao dizer que: “O narrador nunca é o autor porque este é um homem livre e aquele se move no interior das regras e limites que este lhe impõe” (p. 29). Uma conclusão que, se não resolve o dilema entre ficção e verdade, pelo menos o torna mais divertido.
Parte II – Os monstros pontilhosos
Llosa propõe uma chave de interpretação que inverte a impressão inicial de muitos leitores. Ele defende que os personagens mais marcantes do romance de Victor Hugo são comoventes por sua desumanidade, não, ao que se poderia pensar, por sua humanidade. Nas palavras de Llosa, são “formas extremas e inusitadas do humano”, quase caricaturas de virtudes e vícios levados ao paroxismo. O realismo psicológico dá lugar a arquétipos, figuras que encarnam ideias morais absolutas, e portanto impossíveis na realidade: o santo, o herói, o mártir, o fanático, o vilão.
Essa distância entre o humano reconhecível e as figuras de Hugo se torna evidente quando o crítico compara o elenco de Os Miseráveis aos protagonistas da tradição romântica e medieval. Para os leitores do século XIX, o romance parecia um espelho fiel da condição humana. Hoje, o contraste com a literatura contemporânea salta aos olhos: “Cada época tem a sua irrealidade: seus mitos, seus fantasmas, suas quimeras, seus sonhos e uma visão ideal do ser humano que a ficção expressa com mais fidelidade que qualquer outro gênero” (p. 49).
A análise de Llosa avança por categorias. Começa por Marius, o “personagem sem qualidades”. É o mais próximo de um homem comum, o mais incoerente, o mais hesitante, e por isso, paradoxalmente, o menos verossímil dentro da lógica de um romance povoado por gigantes morais. Llosa observa que “sua conversão ideológica tampouco é muito convincente”, parecendo mais fruto de um capricho juvenil do que de uma maturação política real (p. 51). Até o heroísmo de Marius na barricada, segundo o crítico, tem tons de passividade e resignação. O personagem parece existir apenas como contraponto aos superlativos que o cercam.
Depois, o foco se volta aos outros habitantes dessa fauna maniqueísta. Hugo divide seus personagens entre “os luminosos” e “os tenebrosos”. Llosa destaca a famosa definição do próprio narrador: “Quem não notou, os seres odiosos têm sua suscetibilidade, os monstros são pontilhosos” (p. 52). Mas Hugo, lembra o crítico, não reserva a monstruosidade apenas aos vilões. Os bons também são, à sua maneira, aberrações de virtude.
O exemplo mais evidente é monsenhor Bienvenu, o “santo” do romance. Llosa o descreve como uma figura quase fora do mundo, alguém que pratica a bondade com a mesma naturalidade com que respira. Suas falhas, quando existem, são decorativas. A aversão ao Imperador na velhice, o pequeno apego aos talheres de prata, tudo é dosado com cuidado para que o bispo de Digne jamais perca a aura beatífica. Hugo faz dele o modelo de um cristianismo idealizado, sem conflitos interiores, um espírito que prefere os gestos aos discursos e que representa, em última análise, o Deus que o próprio autor parece querer exibir ao leitor. A observação de Llosa sobre a resposta de Hugo ao filho Charles, que criticava o tom edificante da personagem, é curiosa: “O homem precisa de Deus. Eu digo isto em voz alta, toda noite eu rezo” (p. 55).
Jean Valjean, por sua vez, é o “justo”, mas um justo trágico, convicto da própria miséria moral e perseguido por uma ética que o obriga a buscar o sofrimento como forma de redenção. Llosa sublinha a obsessão de Valjean com o dever e a culpa: “Se alguém quer ser feliz, senhor, não pode ter senso do dever” (p. 58). A angústia com que o personagem vive sua missão de ser bom o transforma numa figura sombria, sem humor, sempre tensa entre a renúncia e o autocastigo.
A sexualidade, ou melhor, a sua ausência, é outro traço estrutural desse universo de monstros. Llosa relembra a leitura de Henri Guillemin ao observar que todos os grandes personagens de Hugo são, de fato, virgens. Jean Valjean, Javert, Enjolras, Marius, Cosette… todos eles vivem em um estado de castidade que, em certos casos, parece tão antinatural quanto a própria força moral de que são feitos. As únicas personagens marcadas pela sexualidade — Fantine e os Thénardier — são, por motivos distintos, figuras de degradação social ou moral.
Aqui Llosa não resiste à ironia. Ao comparar a abstinência de Marius e Cosette com os costumes nada pudicos do próprio Hugo durante o exílio em Jersey, o ensaísta lembra que, enquanto escrevia sua “teodiceia da assexualidade”, o autor mantinha um relacionamento regular com Juliette Drouet e com as empregadas domésticas, remuneradas segundo uma tabela bastante pragmática. Contam as más línguas que Victor Hugo se entretinha com uma ocupação paralela de caráter bem menos espiritual que a escrita. Ele remunerava as empregadas domésticas segundo uma tabela detalhada, que estipulava o preço de cada “favor sexual” que pedia delas. Por exemplo: se a moça apenas mostrasse os seios, alguns centavos bastavam; se se despisse por completo, mas sem permitir contato físico, o valor subia; já para carícias mais audaciosas, um franco, e, em tardes particularmente generosas, até dois. Tudo devidamente registrado em cadernetas secretas, redigidas em espanhol — língua que servia a Hugo para esconder confissões picantes e baratear a vergonha.
O capítulo se fecha com a figura de Javert, tratado como o mais fascinante dos monstros. Llosa reconhece nele o arquétipo do funcionário ideal, um homem inflexível, incapaz de negociar entre o espírito e a letra da lei, “incorruptível” até o último instante. O drama de Javert, contudo, é o surgimento tardio da dúvida. Sua morte é o colapso de uma consciência que, pela primeira vez, percebe a contradição entre a moral e a lei: “Ele pensava que então era verdade, que havia exceções, que a autoridade podia errar” (p. 66).
Nas notas finais, Llosa relembra que Os Miseráveis é, antes de tudo, uma grande representação teatral. Cada personagem fala para um público invisível, ensaiando gestos, frases e decisões como quem sabe estar sendo observado — aqui, vale lembrar que Victor Hugo começou sua carreira como dramaturgo. Até a tragédia de Javert carrega algo de mise-en-scène. O próprio narrador, esse outro grande personagem, parece consciente de que tudo, no fundo, é espetáculo.
Da leitura fica o desconforto de perceber que a maior irrealidade de Hugo talvez não esteja nos episódios melodramáticos ou nos milagres narrativos, mas justamente na pureza moral dos seus protagonistas. O mundo de Os Miseráveis é um palco em que todos, heróis e canalhas, santos e bandidos, precisam sempre representar um papel absoluto. Talvez por isso ainda nos comovam. Não por serem como nós, mas por serem aquilo que nunca conseguimos ser.
Parte III – A tentação do impossível
No último capítulo, e meu preferido, Llosa abandona a análise estrutural dos personagens e da narração para falar sobre o papel social da ficção. Ele parte da crítica de Alphonse de Lamartine, escrita logo após a publicação do romance, que acusava Victor Hugo de incitar o caos social ao despertar nas massas aquilo que o poeta e político chamou de “paixão do impossível”.
Lamartine, um dos heróis da França na queda de Luís Felipe e chefe do governo provisório que proclamou a República, embora fosse amigo de Hugo e o tivesse apoiado em sua entrada na Academia Francesa, leu o livro com olhos de estadista alarmado. Segundo ele, o romance era perigoso porque, ao glorificar personagens como Jean Valjean e monsenhor Bienvenu, Hugo transformava a sociedade em um monstro coletivo, responsável por todas as desgraças humanas. Era, nas palavras de Lamartine, uma obra que fazia do homem um antagonista e vítima da sociedade, “uma obra funesta porque, ao apresentar o homem-indivíduo como um ser perfeito, faz da sociedade uma síntese de todas as iniquidades humanas” (p. 132).
Llosa, com sua ironia, enfatiza o exagero de Lamartine, mas reconhece que, por trás da retórica indignada, havia um argumento mais profundo: o medo de que a ficção, ao construir mundos mais justos e heroicos que o real, contaminasse os leitores com uma insatisfação crônica em relação à vida. Não à toa, Lamartine via em Os Miseráveis uma utopia na linhagem de Rousseau e de Saint-Simon, um livro que, como ele mesmo escreve, “pode induzir o ser humano a odiar aquilo que o salva, a ordem social, e a delirar por aquilo que é sua perdição: o sonho antissocial do ideal indefinido” (p. 132).
Llosa é cuidadoso ao expor os ataques mais diretos, a crítica ao “romanesco”, ao excesso de sentimentalismo, ao que Lamartine chama de “obra-prima da impossibilidade”. Os personagens, segundo o político, são caricaturas, preguiçosos, vagabundos, licenciosos. Até mesmo Marius, ao lutar na barricada, ele defende, o faz por tédio e não por convicção. Lamartine lamenta que Hugo transforme o povo em vítima e o convença de que pode aspirar a uma redenção social inatingível.
O que Llosa argumenta, porém, é que Lamartine, ao tentar destruir o romance, acabou produzindo um dos mais certeiros retratos do poder da ficção. Quando acusa Hugo de criar personagens irrealizáveis, que poderiam estimular revoluções e desordens sociais, Lamartine reconhece, talvez sem querer, que toda boa ficção tem capacidade de fazer o leitor desejar outro mundo. Llosa cita Hobsbawm, o qual diz que o que os príncipes alemães mais temiam em seus súditos era “o entusiasmo”, porque este, a seu ver, era semente de agitação, uma fonte de desordem (p. 136).
Llosa observa que hoje, em tempos de democracia liberal, a ficção parece ter sido domesticada. Ninguém mais acredita que um romance possa derrubar um governo ou provocar um levante nas ruas. A literatura virou, para muitos, um “entretenimento superior”, uma distração para a classe média ilustrada. No entanto, nas sociedades fechadas, o medo da palavra permanece intacto. Não por acaso, as ditaduras ainda censuram livros, fecham editoras, exilam escritores.
Llosa vê nisso uma espécie de paradoxo civilizacional: “As ditaduras exageram na sua suscetibilidade, mas não se enganam” (p. 139). Sabem que uma boa ficção não termina nas páginas do livro. Ela se infiltra na memória, no inconsciente, nos sonhos de quem lê. Mesmo sem mobilizar exércitos ou formar partidos, a literatura, ao produzir o que Lamartine chamou de “a tentação do impossível”, planta a dúvida, o desconforto, o desejo de transformação.
Nas notas finais, Llosa faz o que talvez seja o maior elogio possível ao romance de Hugo: reconhece que Os Miseráveis continua sendo, mais de um século depois, um livro capaz de gerar esse mal-estar. Não por suas ideias políticas, que envelheceram, nem pelas suas análises sociais, hoje datadas, mas pela força da sua ficção, pela capacidade de fazer o leitor desejar um mundo diferente. Como diz o próprio Llosa, “basta que uma ficção seja bem-sucedida e envolva os leitores na ilusão para que o milagre se produza” (p. 138).
A conclusão é menos uma sentença que uma confissão pessoal. Llosa parece admitir que também ele, como tantos outros leitores antes e depois, caiu na armadilha de Hugo. Leu o romance, emocionou-se, revoltou-se, desejou um mundo mais justo. E, como todos nós, também foi vítima da tentação do impossível.
Se você já é um assinante do Clube, adquira nossa edição de Os Miseráveis em pré-venda!