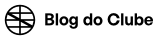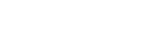Redação do CLC
1. O Belo e o Mal: o universo poético de Baudelaire
Lançado em 1857, As Flores do Mal foi, desde o início, uma obra marcada pela ruptura. Baudelaire propôs algo radical: transformar a feiura, o vício, a decadência e o tédio existencial em matéria poética. Diferente da poesia lírica tradicional, seu objetivo não era elevar a alma por meio do sublime, mas fazer do cotidiano — mesmo o mais sombrio — uma fonte de beleza formal.
O título da obra já é um manifesto estético. As “flores” representam a forma, o rigor técnico e a musicalidade da poesia clássica, enquanto o “mal” é o conteúdo: melancolia, sexualidade, morte, desesperança. A proposta de Baudelaire é unir esses opostos, como quem colhe flores em meio ao lodo. Ele não quer edulcorar a realidade, mas extrair dela uma verdade mais profunda e estética.
Hugo Friedrich aponta que, ao estruturar a lírica moderna, Baudelaire rompe com a harmonia entre o eu lírico e o mundo exterior. A poesia se torna tensão, conflito e autopercepção aguda do sujeito moderno1. O poeta já não canta a natureza, mas a cidade; não louva o amor platônico, mas o desejo inquieto e culpado.
Essa poética do conflito ganha expressão formal no uso da métrica rigorosa e de rimas simétricas — heranças clássicas — aplicadas a temas modernos como a prostituição, o tédio burguês e a febre urbana. Essa contradição entre forma e conteúdo não é defeito, mas marca registrada da estética moderna inaugurada por Baudelaire.
2. O que é o spleen?
Poucos conceitos são tão associados a Baudelaire quanto o spleen — uma espécie de tédio existencial, de angústia sem causa visível, que invade a alma e paralisa o espírito. Mas esse não é um tédio romântico ou vago: é profundamente urbano e moderno, produto direto da vida no século XIX, especialmente no cenário de uma Paris em transformação.
Jean Starobinski descreve o spleen baudelairiano como um estado de consciência hiperaguda da transitoriedade e da decadência do mundo. O poeta não se sente pertencente a sua época, mas esmagado por ela. Nesse sentido, o spleen é também um sintoma da condição moderna2. O “eu” que fala em seus poemas está sempre em luta com o tempo, dividido entre o desejo do absoluto (o Ideal) e a percepção brutal da realidade.
Walter Benjamin aprofunda essa ideia ao associar o poeta ao flâneur — figura errante que caminha pela cidade, observando-a com olhos críticos. O poeta seria, assim, um intérprete do caos moderno, alguém que lê os signos da cidade como um arqueólogo da alma urbana3. Nesse processo, o tédio se torna epifania, e a dor, linguagem.
Baudelaire antecipa o sujeito fragmentado da psicanálise, o artista desconfiado da ideia de progresso e que enxerga no consumo e no excesso urbano não um sinal de civilização, mas de decadência espiritual. É por isso que As Flores do Mal ainda fala tão fortemente à sensibilidade contemporânea.
3. O poeta maldito e a censura
A publicação original de As Flores do Mal enfrentou a repressão moral do Segundo Império francês. Seis poemas foram imediatamente censurados por “ofensa à moral pública e aos bons costumes”, e Baudelaire foi condenado a pagar uma multa. A repressão não foi apenas judicial: críticos da época o acusaram de depravação e de atacar os valores burgueses.
O escândalo, porém, também alavancou sua fama. Antoine Compagnon observa que essa dualidade entre poeta maldito e mártir cultural foi essencial para moldar a figura do poeta moderno como alguém à margem da sociedade, mas com poder quase profético4. Baudelaire, nesse sentido, torna-se um “sacerdote das sombras”, como diria um crítico posterior.
Mesmo com a censura, As Flores do Mal foi lido avidamente por escritores e intelectuais, tornando-se uma obra de culto. Arthur Rimbaud, Paul Verlaine e Stéphane Mallarmé reconheceram Baudelaire como o pai espiritual do simbolismo. No Brasil, suas influências reverberam em Cruz e Sousa, Alphonsus de Guimarães e mesmo em Augusto dos Anjos.
O episódio da censura também serviu para consolidar a imagem do poeta como mártir da liberdade artística. Décadas depois, os poemas suprimidos foram reintegrados à obra, e As Flores do Mal passou a figurar entre os maiores clássicos da literatura universal.
4. Baudelaire inaugura uma nova sensibilidade
Uma das maiores contribuições de As Flores do Mal à poesia foi sua técnica inovadora. Apesar de utilizar formas tradicionais, como o soneto e o alexandrino francês, Baudelaire reinventou essas estruturas ao empregá-las com finalidades modernas. Ele subordinava a rigidez formal à expressão de estados mentais ambíguos, dilacerados entre o sublime e o abjeto.
O uso de símbolos foi essencial nesse processo. Ao contrário do realismo que buscava descrever o mundo externo com precisão, Baudelaire preferia sugerir sensações por meio de imagens evocativas, sinestesias e metáforas que apontavam para significados ocultos. Sua poesia não quer decifrar o mundo, mas inquietar a percepção. Como destaca Antoine Compagnon, essa ambiguidade simbólica é uma das marcas centrais da sensibilidade moderna5.
O simbolismo em Baudelaire também não é apenas estético, mas ontológico: os símbolos revelam uma visão trágica do mundo. A cidade, por exemplo, aparece como uma entidade viva, ameaçadora, que devora o sujeito. A mulher é ora musa, ora demônio. A morte, longe de ser apenas fim, é obsessão e fascínio. Em vez de verdades consolidadas, Baudelaire oferece uma miríade de enigmas sensoriais.
André Martins salienta que essa “cena da linguagem” em Baudelaire rompe com a lógica discursiva clássica e inaugura um novo modo de subjetividade6. O poeta se transforma num mediador instável entre signos e experiências, entre a ordem do verso e o caos da existência.
5. A influência de Charles Baudelaire na poesia brasileira
O impacto de Baudelaire ultrapassou fronteiras e chegou ao Brasil com força. Sua influência pode ser rastreada na poesia simbolista do final do século XIX, especialmente em Cruz e Sousa e Alphonsus de Guimarães, que absorveram tanto o gosto pela musicalidade quanto os temas sombrios — morte, espiritualidade, melancolia.
Mais tarde, mesmo os modernistas brasileiros, críticos da retórica simbolista, reconheceriam a importância de Baudelaire como introdutor da modernidade poética. Affonso Romano de Sant’Anna mostra como As Flores do Mal funcionou como uma espécie de “poesia possível”, mesmo quando não mais imitada diretamente7. A proposta de Baudelaire — unir beleza e transgressão — continua seduzindo poetas contemporâneos.
Além disso, a presença de Baudelaire nos currículos, nas traduções e na crítica literária brasileira moldou o modo como entendemos o papel do poeta e da poesia. Ele deixou de ser apenas uma referência estética para se tornar um arquétipo do artista moderno: inquieto, marginal, intensamente lúcido.
Na cultura popular, expressões como “spleen” ou “poeta maldito” foram apropriadas e difundidas, muitas vezes sem que se saiba sua origem direta em Baudelaire. Isso atesta o poder de penetração simbólica de sua obra, que continua a produzir significados mesmo fora do campo literário estrito.
6. Por que ler As Flores do Mal hoje?
Mais de 160 anos depois, As Flores do Mal permanece como uma das obras mais potentes da poesia mundial. Não apenas por sua beleza formal, mas pela coragem de encarar o lado sombrio da alma humana — e de transformá-lo em arte. Baudelaire nos obriga a olhar para dentro, para nossas contradições, desejos e desesperanças, sem nos oferecer conforto, mas uma linguagem à altura da complexidade do mundo.
Sua poesia continua a ser um antídoto contra as versões simplificadas da realidade. Em tempos de aceleração e excesso de positividade, Baudelaire permanece como um lembrete da densidade da experiência humana. Seu olhar clínico sobre a cidade, o tempo e o desejo ainda pulsa com estranha familiaridade. E isso talvez explique por que continuamos voltando às suas flores doentias.
Conheça nossa edição de As Flores do Mal, com tradução exclusiva do poeta Wladimir Saldanha.
- Friedrich, Hugo. Estrutura da lírica moderna: da metade do século XIX à metade do século XX. Trad. Marise Zappa. São Paulo: Duas Cidades, 1978. ↩︎
- Starobinski, Jean. A melancolia de Baudelaire. Trad. Maria Lúcia Machado. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. ↩︎
- Benjamin, Walter. Charles Baudelaire: Um lírico no auge do capitalismo. Trad. José Carlos Martins Barbosa. São Paulo: Editora Brasiliense, 1984. ↩︎
- Compagnon, Antoine. O demônio da teoria: literatura e senso comum. Trad. Cleonice Paes Barreto Mourão. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2001. ↩︎
- Ibidem. ↩︎
- Martins, Alexandre Rangel. Poesia e modernidade: Baudelaire e a cena da linguagem. São Paulo: Edusp, 2002. ↩︎
- Sant’Anna, Affonso Romano de. A poesia possível. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1970. ↩︎