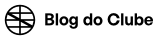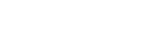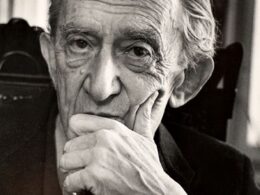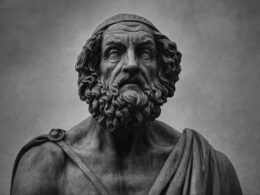Redação do CLC
Ao pensar na literatura francesa do século XIX, é impossível não evocar o nome de Alexandre Dumas pai. Autor de obras-primas como O Conde de Monte Cristo e Os Três Mosqueteiros, ele foi um romancista de sucesso, mas também o contador de histórias que reinventou a aventura e tornou a ficção histórica acessível e eletrizante. Sua trajetória pessoal é tão épica quanto as narrativas que criou: um homem mestiço, neto de escrava, que venceu o preconceito, transformou a dor em criatividade e fincou seu nome no panteão dos escritores universais.
Embora por vezes acusado de populismo literário, Dumas é hoje reconhecido não apenas pela força de sua pena, mas pela inteligência narrativa e pela sensibilidade com que retratou os dilemas humanos. Neste artigo, percorremos sua origem complexa, vida turbulenta, carreira prolífica e o legado indiscutível que deixou à cultura mundial.
Origens: a saga de um filho de general
Alexandre Dumas nasceu em 24 de julho de 1802, na pequena cidade de Villers-Cotterêts, ao norte da França. Sua história familiar é singular e fundamental para compreendê-lo. Seu pai, Thomas-Alexandre Dumas Davy de la Pailleterie, foi o primeiro general negro do exército francês e uma das figuras militares mais notáveis da Revolução Francesa. Filho ilegítimo de um marquês normando com uma mulher africana escravizada na colônia francesa de Saint-Domingue (atual Haiti), Thomas-Alexandre foi levado à França ainda jovem, onde rompeu com a família aristocrática e adotou o sobrenome da mãe: Dumas.
A trajetória de Thomas-Alexandre é digna de romance: tornou-se cavaleiro, serviu nas campanhas revolucionárias, chegou ao comando de exércitos inteiros e foi idolatrado por seus soldados. Contudo, discordou e rompeu com Napoleão Bonaparte, o que lhe custou a carreira e a liberdade. Foi preso durante um trajeto em navio clandestino, quando tentava voltar à França, e permaneceu dois anos numa masmorra italiana. Quando finalmente foi liberto, estava doente e desiludido. Morreu pobre em 1806, quando Alexandre tinha apenas quatro anos.
O jovem Dumas cresceu com as histórias sobre o pai-herói, contadas por sua mãe, Marie-Louise Labouret, que sustentou a família como pôde após a viuvez. A figura do pai marcou profundamente o imaginário de Alexandre. Muitos críticos veem nos personagens de Dumas traços do pai: a coragem, o senso de justiça, a honra acima da vingança, e uma masculinidade generosa que redime pela ética, não pela força bruta1.
O início da carreira literária
Em 1823, Dumas muda-se para Paris, onde trabalha como copista no Palais Royal. O ambiente cortesão abriu-lhe as portas do teatro e da imprensa. E Dumas, autodidata e apaixonado por literatura, começou a escrever peças e logo conquistou espaço no cenário cultural. Em 1829, sua peça Henri III et sa cour (Henrique III e sua Corte) foi um sucesso retumbante. Em poucos anos, Dumas dominava os palcos franceses com peças de caráter histórico e linguagem viva.
Mas foi com a explosão do romance de folhetim, publicado em jornais por capítulos, que Dumas se consagrou. Obras como Os Três Mosqueteiros (1844), O Conde de Monte Cristo (1844–1846), A Rainha Margot (1845) e O Visconde de Bragelonne (1847–1850) fizeram dele um autor celebridade. Milhares de leitores esperavam com ansiedade os próximos episódios. Dumas escrevia com energia rara, misturando ação, emoção e história de forma envolvente.
Para saber mais sobre o que foi o romance de folhetim, leia aqui nosso artigo completo!
Embora contasse com um colaborador fixo, Auguste Maquet, que estruturava roteiros e pesquisas históricas, era Dumas quem dava vida e estilo aos textos. A questão da autoria gerou disputa judicial: em 1858, Maquet processou Dumas por não reconhecer sua contribuição como coautor. O tribunal reconheceu parte do mérito de Maquet, mas manteve Dumas como autor principal2. Essa questão, no entanto, rondou a carreira de Dumas inclusive postumamente, visto que seu trabalho com Maquet e outros colaboradores fez com que, por muitos anos, ele fosse visto com receio pela comunidade literária. Há um fato, porém, que é inegável: Dumas só conseguiria escrever e criar novas obras com a velocidade que fazia, porque contava com essa ajuda de colaboradores para pesquisas históricas e até mesmo na criação dos enredos.
Durante esse período, Dumas também viveu como poucos. Era generoso, excêntrico e festeiro, conhecido por ganhar muito dinheiro com seus livros, mas também por gastar ainda mais do que ganhava com festas, mulheres e viagens. Era, de fato, um boêmio, e suas aventuras lhe renderam muitas histórias, dignas de um romance de folhetim.
Fundou um teatro próprio e construiu o famoso Château de Monte-Cristo, lugar que virou um importante ponto de encontro para pensadores e escritores da época. Além disso, também criou jornais e viajou diversas vezes pela Europa. Teve inúmeros relacionamentos amorosos e pelo menos quatro filhos reconhecidos – entre eles Alexandre Dumas filho, que também se tornaria um grande escritor, autor de A Dama das Camélias.
Além disso, também vale destacarmos outros fatos importantes de sua vida, como seu período de exílio. Da mesma forma que Victor Hugo, Dumas também passou um período exilado durante o governo de Napoleão III, principalmente para fugir de seus muitos credores. Primeiro foi a Bruxelas, e depois dirigiu-se à Rússia, onde já era amplamente lido e conhecido. Da mesma forma, também esteve um período na Itália e chegou até mesmo a lutar na unificação do país, entre os anos de 1861 a 1864, para depois voltar para a França. Por isso, não é exagero considerar que a vida de Alexandre Dumas poderia muito bem compor um de seus próprios livros.
O Conde de Monte Cristo: uma origem inesperada
Entre as dezenas de romances que escreveu, O Conde de Monte Cristo ocupa lugar privilegiado na memória literária. Inspirado em uma história real — o caso de François Picaud, que foi preso injustamente por amigos invejosos — o romance narra a saga de Edmond Dantès, um marinheiro traído, preso e transformado pela dor. Após anos de prisão injusta no Castelo de If, Dantès escapa, encontra uma fortuna escondida e retorna à sociedade sob a identidade do misterioso conde, com o objetivo de vingar-se.
O livro não é apenas uma história de vingança: é uma reflexão sobre injustiça, transformação e identidade. Ao se reinventar como conde, Dantès rompe com o passado, mas também se aproxima de uma figura divina — ele pune, mas também recompensa. A crítica reconhece em Dantès elementos autobiográficos. O próprio Dumas, marginalizado por sua origem e vítima do preconceito, teria canalizado suas frustrações no personagem3.
Além disso, O Conde de Monte Cristo foi um marco editorial. Publicado originalmente em folhetins no Journal des débats, foi traduzido para dezenas de línguas e adaptado inúmeras vezes para o cinema e a televisão. Em várias culturas, tornou-se símbolo da justiça e da vitória. Até hoje, é uma das obras mais lidas e estudadas da literatura francesa.
Conheça dois aspectos fundamentais para entender O Conde de Monte Cristo!
De autor popular a símbolo nacional
Apesar do sucesso popular, Dumas enfrentou o desprezo da crítica acadêmica por décadas. Era visto como escritor de massas, e sua entrada na Academia Francesa jamais se concretizou. No entanto, sua influência nunca arrefeceu. Quando olhamos para seu legado literário, vemos como Dumas foi responsável por popularizar o romance histórico na França e dar vida nova à história seu país. Além disso, sua linguagem direta e cinematográfica antecipa recursos narrativos que só seriam plenamente valorizados no século XX – e que seguem vigentes no século XXI, a era dos roteiros de streaming.
Um fato muito curioso é que, em 1850, Dumas publicou textos defendendo a soberania do Uruguai, criticando as pretensões imperialistas do Império Brasileiro. Em estudo publicado pela PUC-SP, o historiador G. S. Sordi mostra como Dumas usava sua fama para promover ideias republicanas, inclusive sobre questões políticas e sociais tão distantes de sua terra natal4.
Após sua morte, em 5 de dezembro de 1870, Dumas não foi imediatamente reconhecido pela classe intelectual. Seus livros, no entanto, nunca deixaram de ser lidos, o que manteve seu legado vivo e inegável durante os anos seguintes. Mas foi somente em 2002 que a França reconheceu oficialmente sua importância nacional, ocasião em que seus restos mortais foram transferidos para o Panteão de Paris, onde hoje repousa ao lado de Victor Hugo e Émile Zola. Durante a cerimônia, em seu discurso, o presidente Chirac afirmou:
“Contigo, nós fomos D’Artagnan, Monte Cristo ou Balsamo, cavalgando pelas estradas da França, percorrendo campos de batalha, visitando palácios e castelos. Contigo, nós sonhamos.”5
Hoje, mais de 150 anos após sua morte, Dumas continua a encantar leitores. Seu talento para entreter, sua paixão pela justiça e sua vida repleta de contrastes fazem dele mais do que um autor de best-sellers: fazem dele um dos imortais da literatura clássica, alguém que escreveu, em sua própria vida, o romance mais extraordinário que poderíamos ler.
O Conde de Monte Cristo é nosso livro do mês aqui no Clube de Literatura Clássica! Garanta o seu!
- MENDES, Maria Lúcia D’Olne. Mes Mémoires: Alexandre Dumas entre história e literatura. 2007. Tese (Doutorado em Letras) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: https://bdtd.ibict.br/vufind/Record/USP_9befe54c10bc1e9779715372ab1fb566. Acesso em: 19 maio 2025. ↩︎
- NOGUEIRA, Isabella. A questão da autoria: o caso de Alexandre Dumas. Mosaico, v. 8, n. 13, p. 223–232, 2017. Disponível em: http://periodicos.fgv.br/mosaico/article/view/69276. Acesso em: 19 maio 2025. ↩︎
- MENDES, Maria Lúcia D’Olne. A História na visão de Alexandre Dumas. Alea: Estudos Neolatinos, Rio de Janeiro, 2004. Disponível em: https://www.scielo.br/j/alea/a/wQ5p5NNgzNNr9b4mCFffx8x. Acesso em: 19 maio 2025. ↩︎
- SORDI, Gabriel Silva. O historiador Alexandre Dumas, defensor do Uruguai. Anais do IX Encontro Internacional da ANPHLAC, Goiânia, 2010. Disponível em: https://www.pucsp.br/sites/default/files/download/cehal/download/acervo/anplac-2010/SORDI.pdf. Acesso em: 19 maio 2025. ↩︎
- CHIRAC, Jacques. Discurso de transferência dos restos mortais de Alexandre Dumas ao Panteão de Paris. Paris, 2002. Disponível nos arquivos do Panteão Nacional Francês. ↩︎