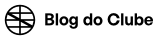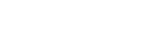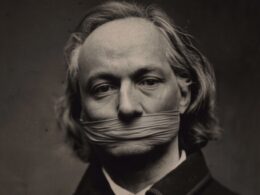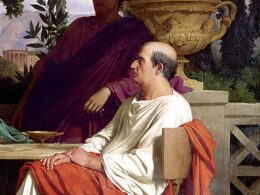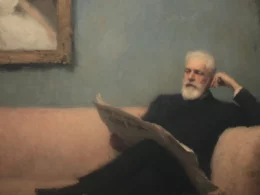Por Fábio Gonçalves1
Vimos na terceira parte desta série que passado um primeiro momento de precavida rejeição, a cristandade medieval, em especial nos tempos de Carlos Magno, foi retomando os estudos clássicos baseados, como sempre, na formação literária (a gramática do Trivium).
Vejamos agora como a modernidade, com o humanismo, passou por uma febre de ensino da linguagem — dando-nos alguns dos maiores gênios literários de todos os tempos —, para depois, com o avanço do cientificismo, ver a chamada educação clássica pouco a pouco arrefecer.
O humanismo e os estudos de linguagem
Não obstante a crise denunciada por John de Salisbury, sabe-se que a educação dessa época, marcada, mais uma vez, por uma reaproximação com a cultura antiga e pela utilização mais sistemática de seus métodos, deu à cristandade dois dos mais aclamados gênios: o poeta Dante Alighieri e o teólogo Santo Tomás de Aquino; aquele, um inveterado leitor de Virgílio; este, um sábio intérprete de Aristóteles.
E é justamente no tempo desses dois portentos que se começa a antever a lenta passagem do mundo medieval para o moderno, passagem que só se consolidaria entre os séculos XV e XVI, no que se convencionou chamar de Renascimento.
***
A marca fundamental desse Renascimento2 é o humanismo, visão de mundo segundo a qual os homens e seus feitos, efetivos e potenciais, é que deveriam estar no centro das nossas preocupações.
Pode-se discordar desse ideário em seus aspectos gerais, mas, para o tema que ora nos importa, que é a educação da linguagem, é preciso destacar que o humanismo dos séculos XV e XVI fez arder uma benéfica febre classicista na Europa Ocidental.
Era justamente a cultura clássica antiga que se estava querendo reavivar, principalmente, mas não apenas, nos seus elementos estéticos e literários. Esse fenômeno foi desencadeado por dois fatos correlacionados: a redescoberta de textos célebres que ficaram alheios aos doutos medievais; e a consequente renovação dos estudos literários, que haviam sido paulatinamente escanteados pelos dialéticos e lógicos dos séculos precedentes.
O homem ideal desse período era o letrado, o erudito, o profundo conhecedor dos clássicos. E, mais que isso, num traço bem característico da época, era quem obtinha essa cultura superior e de alguma maneira realizava, na prática, suas potencialidades, quer no domínio das artes, quer no das ciências. Leonardo da Vinci, que era tudo, poeta, inventor, pintor, matemático, cientista, músico, enfim, o arquétipo de polímata, ele nos dá ótimo exemplo desse tipo de excelência renascentista.
O humanismo privilegiou o estudo das letras antigas, e não tardou a ver brotar frutos exuberantes dessa nova cultura: Camões, Cervantes, Shakespeare, e mesmo um Padre Antônio Vieira.
Este último, aliás, foi produto da famosa educação jesuítica, a um tempo resumo dos ideais formativos do humanismo cristão e ponte, provavelmente involuntária, para a chamada escola moderna.
A Companhia de Jesus, surgida no século XVI, contemporânea às Reformas Protestantes e militante da Contrarreforma Católica, desde suas origens se preocupou com a educação das crianças e jovens. Deriva disso o Ratio Studiorum3, documento da Ordem que regulamentava, com riqueza de detalhes, o funcionamento dos florescentes Colégios Jesuítas.
Conforme se lê no Ratio, a educação ali também se iniciava com um profundo estudo de gramática, dividido em três etapas progressivas: a inferior, a média e a superior, cada uma das quais dedicadas a uma ordem de conhecimentos linguísticos e baseadas em textos com diferentes graus de dificuldade — sempre tirados de autores clássicos ou das Sagradas Escrituras. Durava de 5 a 7 anos essa fase das Letras e Humanidades, preparação para os estudos superiores de Filosofia e Teologia.
Veja o que diz o Ratio Studiorum sobre como o professor de gramática deveria proceder em uma aula:
Primeiro resuma o assunto em latim e em seguida interprete cada período de modo que a exposição vernácula se siga imediatamente à latina. Em terceiro lugar retomando o trecho de princípio (a menos que prefira inserir este ponto na exposição) escolha duas ou três palavras, explique-lhes o sentido e a derivação, confirmando esta explicação com um ou dois exemplos tomados principalmente do mesmo autor. Desenvolva também e esclareça as metáforas; sobre a mitologia, a história, e quanto se refere erudição, se ocorrer, passe rapidamente; colha duas ou três frases mais elegantes; por último percorra o trecho do autor em vulgar (em vernáculo mais elegante). Pode também ditar o mais brevemente possível o assunto em latim, as observações, as propriedades e frases.
Estamos já no umbral do século XVII e os principais arquitetos do ensino, não obstante as vicissitudes do tempo e as mudanças de cosmovisão, seguem fazendo fundamentalmente o mesmo que era prescrito, quase dois milênios antes, pelos sábios helenísticos — em obediência a preceitos educacionais insinuados já em Homero: a educação, qualquer que seja sua finalidade, independentemente do tipo humano que se queira engendrar, seja o aristocrata antigo, o filósofo, o político, o teólogo, o cavaleiro, o artista, o erudito, o padre, fosse o que fosse, deveria se iniciar pelo domínio da linguagem, pela gramática, a arte de ler os poetas e assimilar-lhes as capacidades de expressão.
O outono da educação clássica
Apesar do comprovado sucesso dessa tradição bimilenar, que deu ao mundo gênios de toda ordem nos mais variados campos do saber, a partir desse mesmo século XVII, surgiram propostas pedagógicas revolucionárias, algo mirabolantes, e desde aí a educação clássica foi lentamente perdendo o seu espaço.
Dessas doutrinas alternativas, a que fez maior fama e gerou efeitos mais prolongados foi a de Jan Comenius.
Em sua Didática Magna4, esse bispo luterano faz profundas críticas à pedagogia antiga, apontando sobretudo ao que ele enxergava como “pobreza de conteúdo” e “falta de sistematização”. Nesse sentido, ele sugere por um lado a inclusão de uma infinidade de matérias já no currículo básico escolar; do outro, fala em aperfeiçoar o modelo de educação racionalizado, segundo padrões abstratos, que tivera seus primeiros lampejos ainda na Idade Média, mais propriamente no século XIV, com os Irmãos da Vida Comum de Gerard Groote5.
Essa ideia de acumular disciplinas de várias ordens já no ensino primário, Comenius certamente derivou dos encantos e ilusões de sua época.
Por influência de pensadores como o francês René Descartes, ganhava forma naquele tempo o chamado cientificismo, ideologia segundo a qual o único conhecimento válido e certo é aquele que se adquire por critérios rígidos de observação e testagem.
Efeito dessa visão de mundo, no plano da educação, é que pouco a pouco se passou a privilegiar o ensino da matemática e de matérias ligadas às ciências experimentais: a física, a biologia, a química etc. Consequência: o erudito renascentista, letrado e polímata, foi sendo substituído pelo racionalista moderno.
A mudança de paradigma, é verdade, deu lá seus resultados: a Europa, nos séculos XVIII e XIX, viveu as duas primeiras Revoluções Industriais. Máquinas e mais máquinas fumegando nas cidades; trens cortando os países; navios colossais a vapor explorando todos os mares; utensílios antigamente raros oferecidos aos borbotões; engenhos até poucos séculos inimagináveis, como a luz elétrica, o telefone e a máquina fotográfica, transformando a realidade de milhões e milhões de pessoas.
Há todo um entusiasmo, uma impressão de que o homem houvesse enfim encontrado o caminho inexorável rumo ao progresso. E trilhar esse caminho, segundo se entendeu, dependia muito mais de conhecimentos técnicos, práticos, exatos, do que da linguagem, humanidades e filosofia.
Evidente que nem as letras, nem as humanidades e tampouco a filosofia foram completamente abandonadas, mas, no que concerne às preocupações da escola, esses campos do saber, tão preferidos desde a Antiguidade, foram ficando, de tempo em tempo, espremidos, menoscabados, relegados ao segundo plano.
Testemunho desse processo é o Relatório da Universidade de Yale, de 18286. Ali, docentes da prestigiosa faculdade americana, em país que também vivia o entusiasmo das engenhocas movidas a carvão e elétrons, protestavam contra a retirada do latim e do grego da grade curricular, e a favor de que se mantivesse o conhecimento dessas línguas como exigência aos calouros.
O documento terminou por entrar à história americana como uma eloquente defesa da educação liberal, aquela que, segundo os antigos, visava dar ao homem não apenas uma profissão, um papel social, qual peça de uma engrenagem, mas, antes, fornecer-lhe os meios para desenvolver plenamente as suas capacidades, quer no plano artístico, moral, intelectual ou espiritual.
No fim, foi voto vencido. O ensino superior, na América e no mundo, incluindo o Brasil, foi ficando sempre mais técnico, matemático, especializado; numa palavra: cientificista. E a educação básica, de caráter propedêutico, foi forçada a seguir esse passo.
Em resumo
Por cerca de dois mil anos, os principais pensadores do processo pedagógico sempre concordaram que tudo começa com o domínio da língua. E mais: senão por pequenos ajustes, sempre admitiram a eficácia do mesmíssimo método e se inspiraram em ideais convergentes; método e ideais que deram à nossa civilização monumentos da arte e do saber como um Demóstenes, Cícero, Santo Agostinho, Dante, Santo Tomás de Aquino, Camões e Shakespeare.
Nos últimos séculos, porém, a idolatria da técnica fez com que se perdesse de vista as finalidades mais altas e nobres da educação. Consequência disso, inverteu-se a velha hierarquia, e aos poucos foi-se legando a linguagem a uma posição secundária dentro de uma escola que já não visa a virtude, a excelência humana e a sabedoria, mas a formação, em escala industrial, de operadores de máquinas, construtores de robôs, manejadores habilidosos de gráficos e tabelas e responsáveis pagadores de impostos.
A busca pela solução
E voltamos ao estado contemporâneo.
Não se sabe com que grau de consciência, como ficou dito no começo, o professor Gladstone Chaves de Mello, depois de diagnosticar tão precisamente o principal motivo de nossa tragédia educacional, propôs a seguinte solução:
“[É preciso] apurar o sentimento da linguagem. Mostrar o que está certo, chamar a atenção para o que está bem, pedir olhos para as belezas e finuras da expressão, fazer sentir as tonalidades semânticas, fazer apreciar a justeza, a propriedade das diversas construções, seja no domínio da palavra estética, seja no domínio da palavra lógica.7
Mais:
Despertada a atenção para o texto inteligentemente escolhido, passará este a ser centro de interesse e ponto de partida para mil comentários relativos à prosódia, à grafia, a vocabulário analógico, à formação de palavras, ao flexionismo, à sintaxe, à Estilística, à Etimologia e à Semântica.
Ministram-se assim conhecimentos assistemáticos, mas vivos, que de resto facilmente se podem estruturar, mediante um paralelo ensino discreto e racional da Gramática.
As observações estilísticas vão afinando o gosto do aluno e vão-lhe desenvolvendo o senso das distinções, que lhe permitirá prosseguir por conta própria e num crescendo, de vital aproveitamento”.8
Outra afirmação importante desse professor se encontra no seu artigo A atual decadência da língua literária:
“A nossa educação secundária de há muito vem faltando à sua verdadeira finalidade, qual seja o desenvolvimento harmônico das faculdades, a cultura geral básica, a formação humanística”.9
É essencialmente o mesmo que se acha nos mestres alexandrinos, nos gramáticos romanos, nas paróquias medievais e nos colégios jesuítas.
Não sabemos se há no mundo ocidental país onde hoje se pratique, de maneira completa, a chamada educação clássica. Há notícias de esforços americanos, partindo em regra de comunidades católicas ou protestantes, de famílias que praticam o ensino domiciliar e dos colégios cristãos de artes liberais10.
No Brasil, apesar de todos os pesares, temos visto na última década o esforço de diversos professores — como Rafael Falcón, Clístenes Hafner e Anthony Wright — e institutos culturais — como o Borborema, o Hugo de São Vítor e o Newman — que têm se dedicado não só a divulgar como a realizar, ao menos em partes, o ideário pedagógico tradicional — com abertura de escolas, cursos livres, palestras e livros introdutórios.
Talvez seja esse o caminho: um resgate educacional que parta de iniciativas modestas, de pequenos círculos que se expandam no espaço e no tempo com a pretensão não de que voltemos magicamente à Atenas de Péricles ou à Roma de Cícero, mas de que se forme uma nova geração capaz de refletir sobre os rumos da nossa cultura e que não deixe o país cair na completa indigência intelectual.
- Fábio Gonçalves é escritor e professor. Tem publicado obras para o público adulto e infanto-juvenil, além de materiais didáticos voltados para o ensino da língua portuguesa. Recentemente, lançou o romance Uma Negra Comédia ↩︎
- Sobre o Renascimento ver: BURCKHARDT, Jacob. A Cultura do Renascimento na Itália, Parte III: O Reflorescimento da Antiguidade. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 1991; DAWSON, Christopher. A divisão da Cristandade, capítulo 16: A Unidade da Cristandade Medieval. São Paulo: É Realizações, 2014; DURANT, Will. História da Civilização, Vol V: O Renascimento. Rio de Janeiro: Record: 1953. CARPEAUX, Otto Maria. História da Literatura Ocidental, vol 3: O Renascimento e a Reforma. São Paulo: Leya, 2012.
↩︎ - Sobre o Ratio Studiorum ver: STORCK, João Batista. Do modus parisiensis ao ratio studiorum: os jesuítas e a educação humanista no início da idade moderna. 2015. Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Rio dos Sinos, 2015; MIRANDA, Margarida. Comunicação apresentada em 2 de Março de 2011, no Colóquio “Reinvenções da Cidade. Modos de vida, modos de ver”, organizado pelo Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.
↩︎ - COMENIUS, Jan. Didática Magna. São Paulo: Martins Fontes, 1997.
↩︎ - Dissemos pouco antes que os jesuítas talvez tivessem feito ponte para a educação moderna, pois eles também organizaram suas escolas partindo dessa sistematização ensinada pelos Irmãos da Vida Comum. Na verdade, os inacianos vão imitar, em vários aspectos, o funcionamento da Escola de Paris, de fins da Idade Média, donde se convencionou dizer que o Colégio Jesuíta se estrutura segundo o modus parisiense.
↩︎ - UNIVERSIDADE DE YALE. A Educação Superior e o resgate intelectual: o Relatório de Yale de 1828. Campinas: Vide Editorial, 2016.
↩︎ - MELO, Gladstone Chaves de. Introdução à Filologia e Linguística do Português. Rio de Janeiro: Editora ao Livro Técnico, 1981.
↩︎ - Ibidem ↩︎
- MELO, Gladstone Chaves de. A atual decadência da língua literária. Disponível em: < https://permanencia.org.br/drupal/node/5275>. Acesso: 26/06/21.
↩︎ - O termo liberal arts, nos EUA contemporâneo, só vagamente indica aquele conjunto de artes e ciências descrito pelos antigos e medievais. Os liberal arts college americanos, via de regra, se destacam não pela aplicação do método clássico, ou algo que o valha, mas pela sua abertura à interdisciplinaridade.
↩︎