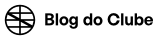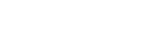Redação do CLC
Você já se pegou assistindo a cinco episódios seguidos de uma série, sem conseguir parar? Já ficou acordado até tarde para descobrir o destino de um personagem? Se você respondeu sim, saiba que esse tipo de fascínio não é exclusivo da era do streaming. Muito antes de Stranger Things, The Crown, Bridgerton ou Succession, multidões esperavam com ansiedade pelo próximo capítulo de histórias envolventes — mas não nas telas: nas páginas dos jornais.
Sim, no século XIX, leitores também eram “viciados” em narrativas seriadas. Eles acompanhavam com fervor os folhetins, capítulos publicados em periódicos diários ou semanais, que serviam como combustível para o imaginário popular. Eram as maratonas de leitura da época, com uma diferença: o tempo de espera entre um episódio e outro podia ser de dias.
E mais: assim como hoje comentamos episódios em redes sociais, fóruns e grupos de WhatsApp, os leitores de folhetim discutiam os destinos de seus heróis em cafés, praças e salões. O hábito de acompanhar uma história em capítulos nos une ao passado de forma surpreendente — e talvez mais profunda do que imaginamos.
Neste artigo, vamos explorar como o consumo de narrativas seriadas atravessa séculos e plataformas. De um lado, temos o streaming, com sua lógica digital, seu apelo visual e sua dinâmica acelerada. Do outro, os romances de folhetim, que marcaram uma geração de leitores e moldaram a literatura moderna. Ao final desta leitura, você talvez descubra que o seu comportamento de hoje, ao devorar uma série, tem muito mais em comum com um leitor oitocentista do que você imaginava.
Streaming: a narrativa em fatias digitais
O advento das plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime, HBO Max e Disney+ revolucionou o modo como consumimos entretenimento. As séries passaram a ocupar um lugar central no cotidiano cultural, muitas vezes superando o cinema em popularidade. Esse novo modelo prioriza o consumo contínuo: são narrativas pensadas em partes, criadas para manter o espectador engajado por horas a fio.
O chamado binge-watching — ou maratona de séries — tornou-se um hábito. E não é apenas uma questão de lazer: é uma experiência cultural compartilhada. Como aponta o pesquisador Henry Jenkins1, a cultura participativa em torno das narrativas seriadas cria um ecossistema em que os espectadores não apenas assistem, mas interagem, teorizam, criam memes e ampliam o universo da obra.
Além disso, o streaming está intimamente ligado à lógica do capitalismo de plataformas: quanto mais tempo o usuário passa conectado, mais dados são coletados, mais publicidade é exibida e maior é o retorno financeiro. Por trás das histórias emocionantes, existe uma estrutura sofisticada de captura de atenção.
O folhetim: streaming no ritmo da prensa
Mas muito antes da era digital, outro formato de narrativa em partes dominava o imaginário popular: o romance de folhetim. Surgido na França do século XIX, o feuilleton era publicado geralmente na parte inferior das páginas dos jornais. Ali, leitores encontravam histórias que se desenrolavam capítulo a capítulo, ao longo de semanas ou até anos.
Autores como Alexandre Dumas, Honoré de Balzac, Eugène Sue e Charles Dickens compreenderam como poucos o poder do suspense e do ritmo narrativo. Cada capítulo precisava terminar com um gancho irresistível, forçando o leitor a retornar à banca no dia seguinte. Não era apenas uma forma de contar histórias, mas uma verdadeira arte da continuidade.
O crítico literário Antoine Compagnon2 observa que o folhetim era tanto uma estratégia literária quanto editorial. Os escritores precisavam ser ágeis, adaptar-se ao feedback dos leitores e manter o interesse do público ao longo do tempo. Isso exigia uma mescla entre planejamento e improviso — algo não muito distante da lógica das séries atuais, que muitas vezes ajustam suas temporadas conforme a recepção do público.
O impacto cultural
A influência do folhetim foi profunda: ele popularizou a leitura, democratizou o acesso à literatura e transformou escritores em verdadeiras celebridades. As conversas nas ruas de Paris ou Londres frequentemente giravam em torno do destino de personagens fictícios, tal como hoje debatemos o final de uma temporada ou a jornada de um protagonista.
Segundo a linguista Diana Luz Pessoa de Barros, “o folhetim criou um vínculo afetivo com o leitor, que se reconhecia nos dramas, paixões e dilemas morais das histórias”3. As narrativas folhetinescas abordavam questões sociais, políticas, familiares e sentimentais — temas que permanecem vivos nas telenovelas e nas séries atuais.
Essa conexão emocional era também construída por meio de arquétipos narrativos: o herói injustiçado, a dama virtuosa, o vilão ardiloso, a reviravolta inesperada. São estruturas que resistem ao tempo, atravessando mídias e séculos — e, não por acaso, ainda seguem tão presentes tanto na literatura quanto nas produções do cinema e da televisão.
Dumas e seu O Conde de Monte Cristo
Entre todos os folhetinistas, poucos foram tão eficazes e influentes quanto Alexandre Dumas. Seu romance O Conde de Monte Cristo, publicado entre 1844 e 1846 no Journal des Débats, é um exemplo máximo da arte do suspense seriado.
A trama de Edmond Dantès — um jovem injustamente preso que retorna com uma nova identidade para vingar-se de seus inimigos — é um verdadeiro épico emocional. Repleto de intrigas, traições, duelos e reviravoltas, o livro condensa os ingredientes perfeitos de uma saga inesquecível.
Claude Schopp4, um dos maiores estudiosos da obra de Dumas, afirma que o autor tinha um senso incrível de timing, sabia exatamente quando terminar um capítulo para deixar o leitor desesperado pelo próximo. Não é por acaso que sua obra continua sendo adaptada para o cinema, a televisão e, mais recentemente, até para podcasts e quadrinhos.
Outros clássicos nascidos no folhetim
Dumas não foi o único a dominar esse formato. Charles Dickens publicou Oliver Twist (1837–1839) e David Copperfield (1849–1850) em capítulos periódicos, muitas vezes modificando o rumo das histórias conforme a reação do público. Honoré de Balzac construiu praticamente toda A Comédia Humana no formato de folhetim. No Brasil, autores como Machado de Assis e José de Alencar também lançaram mão da publicação seriada em jornais como Gazeta de Notícias e Correio Mercantil.
Essas obras, ao mesmo tempo em que entretinham, funcionavam como espelhos da sociedade. Elas permitiam aos leitores refletir sobre questões contemporâneas, sem abrir mão do drama e da emoção. A cadência semanal dos capítulos criava uma espécie de ritual de leitura coletiva — tão poderoso quanto a estreia de um episódio de série nas noites de domingo.
Streaming e folhetim: entre o efêmero e o duradouro
A comparação entre o folhetim e o streaming revela uma continuidade inesperada na forma como consumimos histórias. Ambos os formatos apostam na serialização, no suspense e na construção de fidelidade. Ambos são moldados por seus contextos tecnológicos e econômicos, mas mantêm essências semelhantes: contar histórias envolventes em doses programadas.
No entanto, há uma diferença marcante entre eles: a durabilidade. O folhetim, ainda que fragmentado, visava à permanência. Muitos textos publicados em jornais foram posteriormente organizados em livros, relidos, estudados e preservados. Já no universo do streaming, uma parte considerável das séries desaparece com rapidez do radar cultural. Afinal, ainda é cedo para dizer que alguma série contemporânea possa ser considerada um clássico no futuro.
Ainda assim, o streaming mostra que a sede por narrativas contínuas está longe de desaparecer. A forma mudou, mas a estrutura emocional que sustenta a história é a mesma. O público continua buscando sentido, emoção e catarse.
Permanecer no tempo
Você já pensou que, ao maratonar uma série, está repetindo — com roupagem moderna — um hábito que encantou multidões no século XIX? A ânsia pelo próximo episódio, a identificação com personagens, o debate caloroso com outros espectadores: tudo isso é herança de uma tradição muito mais antiga do que supomos.
A conexão entre o folhetim e o streaming vai além da forma: ela revela algo essencial sobre o ser humano. Gostamos de histórias. Precisamos delas. São elas que nos ajudam a compreender o mundo, a projetar nossos desejos, a encontrar sentido no caos cotidiano. Nesse ponto, o passado e o presente se tocam.
Mas há algo que o romance de folhetim nos ensina — e que talvez o consumo acelerado de hoje nos faça esquecer. Essas histórias, quando bem escritas, não apenas entretêm: elas permanecem no tempo. De um jornal, passam a livro; de livro, a estudo; de estudo, a eternidade. Dumas, Dickens e Machado ainda vivem porque suas histórias resistiram ao tempo.
O streaming, com todo seu brilho, ainda não demonstrou esse mesmo poder de permanência, e menos ainda o de chegar ao nível de profundidade do qual a literatura é capaz.
Muitas séries nos arrebatam por um tempo, mas se perdem no mar de lançamentos semanais. Já o folhetim literário, mesmo nascido da lógica editorial, transcendeu o jornal. Tornou-se literatura. E a literatura, essa sim, tem vocação para durar.
E você, o que pensa sobre isso?
Temos um vídeo especial no YouTube falando mais desse assunto. Você pode conferir aqui!
Não deixe de conferir nossa edição de O Conde de Monte Cristo. Conheça aqui!
- Jenkins, Henry. Cultura da convergência. São Paulo: Aleph, 2009. ↩︎
- Compagnon, Antoine. Os cinco paradoxos da modernidade. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. ↩︎
- Barros, Diana Luz Pessoa de. O discurso do folhetim. São Paulo: Contexto, 1990. ↩︎
- Schopp, Claude. Alexandre Dumas: genèse d’une œuvre. Paris: CNRS Éditions, 2002. ↩︎