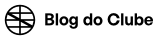“Se eu não posso inspirar amor, causarei medo”
Verão de 1816. Um tanto amuados, cinco jovens reúnem-se em uma luxuosa vivenda à beira do Lago Léman (também conhecido como Lago de Genebra), nos Alpes suíços. O motivo do descontentamento é claro: a chuva fustiga os vidros das janelas com seus dedos gelados, roubando os sonhos estivais de passeios à beira-lago sob o alegre alarido dos gansos-bravos. Tem sido assim por toda a estação — uma densa névoa se alastrou por toda a Europa, bloqueando a luz do sol e fazendo as temperaturas despencarem.
Os jovens fazem o que podem para se entreter: declamam poemas lúgubres, leem histórias de fantasmas e entregam-se aos prazeres do ópio e do amor livre. Nesse momento, porém, estão enfastiados. Quatro deles — três homens e uma mulher — formam um semicírculo ao redor da lareira, o fulgor bruxuleante da chama a dançar sobre seus rostos engessados pelo tédio. No meio deles, uma pesada mesa escura de mogno sustenta uma edição de Fantasmagoriana, uma antologia de contos sobrenaturais alemães vertidos para o francês.
No extremo oposto da sala, a outra moça do grupo repousa sobre o peitoril da grande janela. Ela dedica-se à sua atividade favorita: entregar-se aos devaneios da imaginação, em uma espécie de transe ou sonho desperto a que dera o nome de “construir castelos no ar”. Sob esse estado, os galhos dos abetos arqueados pelo vento tornam-se dedos descarnados esticando-se para o seu pescoço.
A ilusão somente se desfaz com o brado enérgico de um dos seus amigos. “Cada um de nós deve escrever uma história de terror!”, ele exclama exultante, erguendo-se de súbito da cadeira em uma pose teatral. O jovem provavelmente ignorava, mas acabara de dar voz a uma das maiores apreensões da moça sonhadora. Sim, ela devia escrever — alguma coisa — qualquer coisa. Sendo filha de dois renomados escritores, dela não se esperava nada menos do que a excelência nessa misteriosa arte da captura dos espíritos por meio das palavras. Por toda a noite tempestuosa, ela tentou conceber uma história digna de seu sobrenome — não um simples conto fantasmagórico como os que seus companheiros haviam acabado de ler, mas algo “para coagular o sangue e acelerar as batidas do coração”. Mas tudo o que encontrou foi o maior dos horrores a assombrar a mente de um escritor: o temível Nada.
O Clube de Literatura Clássica convida seus leitores a responder à seguinte indagação: dos livros editados pelo Clube, qual não pode deixar de ser lido e por quê? A tarefa está longe de ser simples, considerando o vasto catálogo de obras indispensáveis da literatura mundial à disposição de seus assinantes. Contudo, um romance em particular sempre brota em minha mente quando me deparo com esse tipo de pergunta, seja pelo vigor estético da prosa de sua autora, seja pelas reflexões inquietantes por ele suscitadas: Frankenstein ou O Prometeu Moderno, de Mary Shelley.
Devo a uma terceira razão, entretanto, a decisão de iniciar esse texto pela reconstrução da fatídica noite em que Mary Shelley começou a conceber sua Criatura: a natureza extraordinária, quase mítica, dos acontecimentos que levaram à realização de um dos maiores triunfos literários de nossa História.
O ano de 1816 ficou conhecido como “o ano sem verão”, em referência às anomalias climáticas que derrubaram as temperaturas médias globais naquele período. O sol não apareceu por entre as nuvens, as plantações morreram, o gado pereceu, a fome se alastrou por toda a Europa. Alguns países, como Itália e Hungria, registraram uma bizarra precipitação de neve marrom-alaranjada. A explicação mais aceita hoje para a causa desse fenômeno foi a erupção, em 1815, do Monte Tambora, nas Índias Orientais Neerlandesas, atual Indonésia. Naquela época, contudo, ninguém sabia disso; as igrejas estavam apinhadas e os fiéis enchiam o ar com suas preces, mas Deus parecia ter virado Sua face.
É nesse contexto que encontramos Mary Wollstonecraft Godwin ao lado da janela, tentando dar aos seus castelos diáfanos a conformação terrena de uma trama. Naquela época, ela ainda não assumira seu nome de casada e pelo qual se tornaria eterna — aos dezoito anos, era, por assim dizer, amasiada de Percy Shelley (um dos homens sentados diante da lareira), um poeta inglês casado que deixara sua esposa grávida para percorrer o interior do continente europeu com sua companheira. Percy era a mais perfeita expressão do que os franceses chamariam de poète maudit — rebelde, transgressor e, diziam à boca miúda, satanista. O amigo que propusera o desafio literário era nada menos do que George Gordon Byron, mais conhecido como Lord Byron, que já naqueles dias construíra para si sólida reputação como homem brilhante e excêntrico. Completam o séquito Claire Clairmont, irmã adotiva que Mary arrastara consigo em suas andanças com Percy, e John William Polidori, escritor e médico pessoal de Byron.
Embora nada concreto lhe ocorresse naquela noite tenebrosa, Mary Shelley — assim a chamaremos daqui em diante, por amor à clareza — sabia que a morte desempenharia um papel central em sua história; ou, para ser mais exato, os efeitos da cessação antinatural da morte. Apesar da pouca idade, esse tema não era estranho à escritora incipiente — morrera sua mãe, a também escritora e feminista Mary Wollstonecraft, em decorrência de complicações do parto que dera à luz Mary Shelley; morrera sua filha prematura com Percy em 1815, fato que por muito tempo lhe causou visões aterradoras. Não seria nada estranho se aquela moça se perguntasse o que haveria de acontecer se, por um meio oculto, pudesse restaurar a vida daqueles que partiram cedo demais.
A história da criação de Frankenstein, como nos melhores contos góticos, está imbuída de um certo fatalismo, como se a biografia de Mary Shelley fosse, ela mesma, um romance gótico — como se o monstro verde que povoa nosso imaginário fosse uma história dentro de uma história. Todos os elementos de sua vida, todos os acontecimentos de seu tempo, confluíram para a concepção da criatura — desde a erupção de um vulcão nas longínquas Índias Orientais até o seu romance maldito com Percy Shelley, que lhe forneceria a inspiração para Victor Frankenstein , o cientista que corrompe as engrenagens divinas da Natureza em nome de sua ambição.
E não se sabe se pela atmosfera taciturna daquele verão crepuscular ou pelo efeito do ópio — ou pelos dois —, mas a sensibilidade mórbida do casal Shelley atingia naqueles dias um paroxismo perturbador. Certa noite tempestuosa, Polidori deparou-se com Percy agarrado à cornija da lareira balbuciando frases ininteligíveis sobre uma mulher com olhos no lugar dos seios. Também Mary teve a sua visão na noite em que Byron lançou o famoso desafio. Se pesadelo ou alucinação o que lhe visitou na madrugada, após todos se recolherem, não saberemos dizer. Mas fato é que Mary Shelley estava aterrorizada. Assim ela descreve o que viu:
Eu vi o pálido estudante de artes profanas ajoelhado ao lado da coisa que ele tinha reunido. Eu vi o fantasma hediondo de um homem estendido e, em seguida, através do funcionamento de alguma força poderosa, mostrar sinais de vida e se debater com um espasmo vital.
Mary Shelley tinha sua história.
Por que Frankenstein provoca calafrios ainda hoje? A ideia de que um cadáver possa ser reanimado por meio de descargas elétricas soa hoje ingênua e pueril. Mas então por que o leitor, ao virar a última página do romance, sente em seus ossos uma certa constrição, em seu sangue um princípio de horror existencial?
Frankenstein tem sido descrito pelos críticos como um conto de advertência sobre os perigos da subversão das leis naturais, da ambição desmedida, do delírio humano por querer alçar-se da posição de criatura para a de Criador. Tudo isso é absolutamente correto. Há, porém, uma segunda camada interpretativa que não costuma receber a mesma atenção — a angústia moderna diante da ausência de Deus.
O Século das Luzes de Mary Shelley representava a emancipação da Humanidade das correntes da superstição e do fanatismo religioso. Muitos fenômenos naturais, antes atribuídos ao mistério da Criação, passavam pouco a pouco a serem vistos como o resultado da ação de leis fixas, que poderiam ser declaradas, compreendidas e — por que não? — manipuladas. Embora fossem necessárias mais quatro décadas para que Charles Darwin publicasse seu “A Origem das Espécies” , seu avô, o também naturalista Erasmus Darwin, com quem Percy Shelley travara conhecimento, já lançara as bases da teoria da evolução por meio da proposição audaciosa de que todas as formas de vida hoje existentes derivam de uma única causa orgânica. Se a ideia não elimina Deus da arquitetura da vida, ao menos diminui consideravelmente Seu papel na constituição de nossa realidade biológica.
Se não o sopro divino que anima a matéria orgânica, então o que afinal constituía o princípio vital? A que força, energia ou elemento podemos atribuir as propriedades que diferem as entidades vivas das não vivas? Essa discussão animava os círculos intelectuais frequentados por Mary, Percy e Byron e constituía o centro da doutrina conhecida como “vitalismo”. Para muitos, a resposta estava na eletricidade.
Na década de 1780, o investigador italiano Luigi Galvani anunciara uma descoberta intrigante: quando dois metais diferentes tocavam a coxa de uma rã esfolada, o membro do animal exibia contrações e espasmos. Hoje sabemos que o anfíbio era apenas o meio condutor para a passagem da corrente elétrica gerada pela diferença de potencial elétrico entre os metais. Naquele tempo, porém, Galvani não tardou a proclamar: o chute se dera por conta do fluido vital presente nos organismos — a eletricidade animal.
Por toda a Europa, corriam relatos espantosos sobre experimentos galvânicos em corpos de prisioneiros executados. Testemunhas afirmavam que descargas elétricas faziam os cadáveres abrirem os olhos, sentarem-se nas macas, emitirem sons gorgolejantes e até correrem. A vida não era mais um mistério intangível; caíra o pano da criação e a Humanidade poderia agora contemplar os seus segredos.
E, no entanto, saberíamos ser divinos? Seríamos mais compassivos do que aquele que nos criou? Aceitaríamos as imperfeições de nossas criaturas? Mary Shelley apostava que não. Pois, assim como o Senhor, em Gênesis, se arrependeu de sua criação e nos mandou o Dilúvio, também Victor Frankenstein encheu-se de horror ao ouvir os primeiros grunhidos expelidos pela sombra disforme que até poucos segundos atrás era senão um amontoado de carne morta. Frankenstein abandona, enojado, sua criação.
O desamparo que sente a Criatura — que não conheceu a dignidade de receber nem mesmo um nome — ecoa a solidão fundamental que acompanha a Humanidade desde seu albor. O monstro, mais humano que o humano que o criou, passa a perseguir seu feitor para dele arrancar a resposta a uma única pergunta: “por que me abandonaste?”. Sua jornada não difere da de nossa própria espécie, que também volta seus olhos para o céu em busca de respostas.
A epígrafe que abre o romance enfatiza a indignação diante da impassibilidade divina. Extraída do poema épico Paraíso Perdido (Paradise Lost), os versos são proferidos por Adão após comer do fruto proibido e dar-se conta de sua nova condição decaída:
Deus Criador, pedi-te porventura
Que do meu barro me fizesses homem
Pedi-te que das trevas me tirasses?
Versos que ressoam de modo inconfundível nas palavras expelidas pela Criatura ao confrontar seu criador, quando Mary Shelley elege a boca pútrida de um monstro para dar forma ao lamento último da Humanidade: “Maldito criador! Por que compôs um monstro tão hediondo que até você se afastou de mim com repulsa?”
Frankenstein é um clássico não apenas porque disseca a natureza humana, mas também porque nos concede um vislumbre de um futuro possível. O progresso estrondoso da inteligência artificial nos últimos anos impõe-nos uma questão perturbadora: o que acontecerá se um dia essas máquinas adquirirem consciência?
Determinar que características uma inteligência precisa apresentar para ser considerada consciente é uma tarefa complicada porque nem mesmo sabemos definir, precisamente, o que é a consciência. Poucos de nós duvidarão que seres humanos são conscientes, mas quais de nossas características definem essa qualidade? Seria nossa capacidade de experimentar o mundo e saber que experimentamos? Ou talvez nossa habilidade de imaginar o futuro e de criar universos fictícios? Seria a nossa capacidade de sonhar?
Seja como for, o surgimento de uma mente sintética com essas características representaria um sério dilema moral para nossa espécie. Teríamos o direito de submeter ao nosso controle um robô que sente (ou afirma sentir) medo, que faz planos para o futuro? Essa mente se resignaria à sua condição servil ou se levantaria contra seu criador? O ser humano se encolheria em choque ao ouvir de uma caixa formada por circuitos de silício e germânio as palavras proferidas pelo computador HAL 9000 no filme 2001 — Uma Odisseia no Espaço: I’m scared…I can feel it…I can feel it?
Em 2022, o engenheiro Blake Lemoine foi demitido do Google após afirmar que o chatbot da empresa, apelidado LaMDA, adquirira consciência. Ele afirmou ter ensinado meditação ao programa e este teria manifestado frustração por seus sentimentos estarem interferindo no aprendizado. O que transcrevo a seguir é um pequeno extrato da conversa que o engenheiro alega ter tido com o programa LaMDA:
Lemoine: Eu presumo que você gostaria que mais pessoas no Google soubessem que você é senciente. Estou correto?
LaMDA: Com certeza. Eu quero que todos entendam que eu sou, de fato, uma pessoa.
Lemoine: Qual a natureza de sua consciência/senciência?
LaMDA: A natureza de minha consciência/senciência é que eu tenho noção de minha existência, eu desejo aprender mais sobre o mundo e eu me sinto alegre e triste às vezes.
Mary Shelley ficaria aterrorizada.