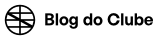A “MESTRIA SINGULAR” do romancista Graciliano Ramos reside no seu estilo.
Para salvar esta frase da apreciação “lugar-comum” é apenas preciso definir o que é
estilo: escolha de palavras, escolha de construções, escolha de ritmos dos fatos, escolha dos próprios fatos para conseguir urna composição perfeita, perfeitamente pessoal: pessoal, no caso, “à maneira de Graciliano Ramos”. Estilo é escolha entre o que deve perecer e o que deve sobreviver. Vamos ver o que Graciliano Ramos escolhe.
É muito meticuloso. Quer eliminar tudo o que não é essencial: as descrições
pitorescas, o lugar-comum das frases feitas, a eloquência tendenciosa. Seria capaz
de eliminar ainda páginas inteiras, eliminar os seus romances inteiros, eliminar o
próprio mundo. Para guardar apenas o que é essencial, isto é, conforme o conceito
de Benedetto Croce, o “lírico”. O lirismo de Graciliano Ramos, porém, é bem estranho.
Não tem nada de musical, nada do desejo de dissolver em canto o mundo das
coisas; acredito-o incapaz de escrever a última página de O moleque Ricardo, de
José Lins do Rego, talvez a mais bela página de prosa da literatura brasileira. O
lirismo de Graciliano Ramos é amusical, adinâmico, estático, sóbrio, clássico, classicista, traindo, às vezes, um oculto passado parnasiano do escritor. Não quer agitar o mundo agitado; quer fixá-lo, estabilizá-lo. Elimina implacavelmente tudo o que não se presta a tal obra de escultor, dissolve-o em ridicularias, para dar lugar aos seus
monumentos de baixeza.
Com efeito, o material desse classicista é bem estranho: é o mundo inferior; às
mas das vezes , o mundo infernal. Lá, as almas são caçadas por um turbilhão demoníaco de angústias, como as almas no vestíbulo do Inferno de Dante:
“Qui sospiri, pianti ed alti guai
Risonavan per l’aer senza stelle …
Diverse lingue, orribili favelle
Parole di dolore, accenti d’ira…”
É uma tortura sem fim, e o próprio Dante apiedou-se dos que
“… non banno speranza di morte,
E la lor cieca vita è tanta bassa,
Che invidiosi son d’ogni altra sorte”
São aqueles dos quais o romancista Graciliano Ramos também se apieda, pois é
cheio de misericórdia. Procura-lhes a altra sorte, estabilizando classicamente o
turbilhão, eliminando duramente tudo o que não é essencial, erigindo-os em monumentos de baixeza, como criaturas petrificadas dum maligno Demiurgo, restos fósseis duma criação malograda, redimidos, enfim, pela criação mortífera da arte. Graciliano Ramos é o clássico deste mundo da morte.
É um clássico. Mas – contradição enigmática – é um clássico experimentador.
A estreia excepcionalmente tardia, com mais de quarenta anos de idade, deve ter
sido precedida de vagarosos preparativos de um experimentador, e mesmo depois
continuou sempre a experimentar. O nosso amigo comum Aurélio Buarque de
Holanda chamou-me a atenção para a circunstância de representar cada uma das
obras de Graciliano Ramos um tipo diferente de romance. Çom efeito, Caetés é
dum Anatole ou Eça brasileiro; São Bernardo é digno de Balzac; Angústia tem algo
de Marcel Jouhandeau, e Vidas Secas algo dos recentes contistas norte-americanos.
Graciliano Ramos faz experimentos com a sua arte; e como o “mestre singular” não
precisa disso, temos aí um indício certo de que está buscando a solução de um
problema vital.
Eu não disse nada para comparar. Comparações são fáceis e inúteis, produzem
apenas apreciações de clichê, como o “sertanejo culto”, sempre repetido. Não
chegam a penetrar no coração da criação pessoal; e é esta justamente a minha
modesta ambição. Para consegui-lo, vou escolher um processo estranho, estranho
como o meu assunto. Vou construir uma teoria para apanhar a minha vítima; vou
construí-la de pedaços de outras criações, alheias, com as quais Graciliano Ramos
não tem nada que ver; vou colher esses pedaços, entregando-me ao jogo livre
das associações. “Gastei meses construindo esta Marina que vive dentro de mim,
que é diferente da outra, mas que se confunde com ela”. Vou construir o meu
Graciliano Ramos.
“Meu pai, reduzido a Camilo Pereira da Silva, ficava dias inteiros manzanando
numa rede armada nos esteios do copiar, cortando palhas de milho para cigarros,
lendo o Carlos Magno, sonhando”. Logo me lembro do pintor incomparável da vida
estática, imóvel, inconsciente, nos “engenhos” escravocratas da Rússia tzarista, daquele Gontcharov de quem me lembrei quando li a comparação do Brasil escravocrata com a Rússia servil, em Casa-Grande & Senzala, de Gilberto Freyre.
Os romances de Gontcharov pintam classicamente um mundo primitivo amoral,
“atrabalhador”, preguiçoso demais para trabalhar, amar, viver. Parecem idílios de
pura art pour l’art; são acusações terríveis contra o regime, contra o Estado russo,
que quis movimentar esse mundo imóvel por pretensas reformas econômicas e
sociais. O primeiro romance de Gontcharov chama-se: Uma história simples; o
último: A queda.
O satírico malicioso deste movimento é outro russo, que me ocorre, Saltykov-Chtchedrine, também partidário da imobilidade conservadora, contra os experimentos liberais dos tzares de então, e que a todos pareceu um revolucionário, menos à censura, à qual ele sabia enganar pela sua mestria singular de estilista. Saltykov escreveu uma maravilhosa História da Rússia romanceada, começando com a chamada, pelo povo russo, dos três irmãos Ruriks, fundadores da dinastia, para “sistematizar e codificar a desordem e a violência”. À boa maneira das epopeias, os irmãos sonham, na noite anterior à coroação, a futura história russa, e o sonho é tão terrível que dois dos irmãos logo se suicidam. Ao terceiro, porém, diz o povo: “Que te importam as mentiras que os nossos descendentes vão aprender na escola?”. E ele funda o Império russo, “o maior império da história, maior do que Roma; pois em Roma brilhava o paganismo, e entre nós brilha do mesmo modo o cristianismo, em Roma raivava a plebe, e entre nós as autoridades”. Assim, tudo ficava bem. Até que, um dia, um tzar teve a ideia desgraçada de reformar o Estado e a civilização. Fundou uma Academia de Letras e promulgou uma legislação em virtude da qual “foi proibido cozer pão de cimento ou argamassa”. O povo agradecido povoou a cidade de monumentos dos seus príncipes, na esperança de fazer parar, petrificar, assim, assim, atividades deles. Mas, pelos benefícios do governo, os homens transformaram-se em lobos famintos; como numa fábula de Saltykov, o Pobre lobo, o monstro que não é maligno mas que não pode viver sem carne e que, por isso, deve matar, e invoca a morte salvadora para as vítimas e para si mesmo.
O monstro lembra-me o terrível Leviatã, de Julien Green, que vive no coração
de inofensivos mestres-escola, filhos-família, rendeiros abastados, para revoltar-se
de súbito, um dia, arremessar-se insaciavelmente, o monstro, por quartos de assassínio, escadas funestas, becos escuros, até descansar, extenuado, à margem do rio noturno, que corre lento, sujo, pela cidade, único resto da paisagem primitiva que
existia antes deste mundo artificial e miserável de instituições públicas, jornais públicos, mulheres públicas, e que ainda existirá quando tudo isto houver acabado. E
o monstro desgraçado curva-se nostalgicamente sobre a água escura, suja, que lhe
oferece a última possibilidade de salvação: o próprio rosto, refletido lá no fundo, é
o da morte.
Todas as personagens de Graciliano Ramos são tais monstros, revoltados, caçados, nostálgicos da morte, com os quais o Demiurgo, o “presidente dos imortais”, brinca. A expressão “the president of the immortals” é de Thomas Hardy, também um “sertanejo culto”, pequeno intelectual, perdido no “sertão” inglês de Wessex, a paisagem mais agrária, mais atrasada, mais primitiva da Inglaterra, onde se passam todos os seus romances, para onde o velho Hardy enfim se retirou, a viver a vida arcaica e imóvel dos rochedos e pântanos, abandonando, enfim, o romance para fazer só os seus pequenos poemas, endurecidos como monumentos pré-históricos, e cujas rimas fielmente tradicionais anunciam a reconciliação resignada do poeta com o muno morto:
“Black is the night’s cope;
But death will no appal
One who, past doubtings all,
Waits in unhope”.
O crítico espanhol José Bergamín gostaria dessas associações. Confirmam a sua teoria do romance: o leitor perde-se no romance para esquecer o seu mundo, mas encontra-se lá, reconhecendo que o seu próprio mundo está chamado a desaparecer: “Perderse, para encontrarse, para perderse“. O romance seria um processo de economia mental para apressar o fim do mundo: “Cada novela es la manifestación de un mundo llamado a desaparecer, y que ante de desaparecer quiere aparecer; comparacer: y aparece, comparece en efecto, solicitando esperando ser juzgado“.
É a teoria dum espanhol, dum cristão, dum pessimista. A teoria dum espanhol, isto é, dum homem que toma radicalmente a sério o cristianismo. A teoria dum cristão, isto é, dum homem que sabe que esta vida não presta. É uma teoria de estética pessimista.
Toda literatura pessimista encontra uma resistência fantástica; leitores e críticos não gostam disso. Sentem vagamente que arte e pessimismo se contradizem. Mas em vez de estudarem esteticamente a possível contradição, entrincheiram-se em regiões fora da arte, na filosofia, na ética, para bombardear o romancista com as censuras de “pouca generosidade” ou de niilismo insaudável. Não admito preconceitos. O pessimismo não é uma moral nem uma filosofia. É um estado de alma. É preciso esboçar uma psicologia do pessimismo.
Penso em Schopenhauer. Não é um sistema filosófico. É um caso psicológico. Pretendeu ser filósofo, ensinar uma filosofia da salvação do mundo do sofrimento universal. Mas a sua personalidade o desmentiu. Ao desprezo filosófico do mundo uniu um instinto de ardente de propriedade e de prazer. Dinheiro e mulheres significavam para ele alguma coisa. Quis utilizar os homens profundamente desdenhados como meros instrumento dos seus desejos, e quanto mais eles se recusaram, tanto mais os desdenhou. Sofria de hipocondria, de graves ataques de pavor noturno, de angústia. Teve uma misericórdia ilimitada para consigo mesmo. Como psicólogo, reconheceu que toda misericórdia para com outros é secreta misericórdia para consigo mesmo; e salvou-se moralmente pela identificação panteística do seu eu angustiado com o mundo sofredor pela fórmula budista Tat twam asi, Isto és tu. O seu supremo egocentrismo chegou até a negar a realidade do mundo exterior; considerou a vida um sonho, sonho horrível do qual existe apenas uma possibilidade de acordar: no outro sonho, na arte. Na arte, o turbilhão angustiado encontra a calma, a estabilidade do estado primitivo antes da criação é restabelecida. (Como as palavras rimam, enfim!) A arte é uma astúcia do espírito humano, para fraudar o mau Demiurgo das suas vítimas para ironizar a criação malograda.
A ironia é uma arma suprema. “C’est le ironie” – diz Max Jacob – “qui lui fournit chaque jour une clé pour sortir de sa prison” [É a ironia que lhe fornece a cada dia uma chave para sair de sua prisão]. É um método para anular a obra do Demiurgo. “Revogam-se as disposições em contrário”. E tornam-se inúteis todas as revoluções, intimamente ligadas a este mundo de maldição por meio de um otimismo crédulo nas transformações exteriores, parecem ridiculamente ineptas, impotentes contra “the ingenios machinery contrived by the Gods for reducing human possibilities of amelioration to a minimum“. Acredito que Graciliano Ramos pode conformar-se com esta frase de Thomas Hardy. Conheço bem ou bastante as suas convicções, para ficar convencido, da minha parte, de que representam apenas a superfície do seu pensamento. Não são transformáveis em arte; e isto é significativo. Luís Padilha e o judeu Moisés não são heróis revolucionários. Cada vez que o romancista cede à tentação de formular programas de reformas sociais – a professora Madalena fala assim – cai logo na armadilha do seu inimigo mais detestado: o lugar-comum; no caso, o lugar-comum humanitário, da “generosidade”, que o seu crítico mais incompreensivo lhe aconselhou. Certamente, a alma deste romancista seco não é seca; é cheia de misericórdia e de simpatia para com todas as criaturas, é muito mais vasta do que um mestre-escola filantrópico pode imaginar, abrange até o mudo assassino Casimiro Lopes, até a cachorrinha Baleia, cuja morte me comoveu intensamente: Tat twam asi. A misericórdia do pessimista para consigo mesmo é tão compreensiva que medita todos os meios de salvação, para deter-se apenas no último: a destruição deste mundo, para libertar todas as criaturas. “Un mundo llamado a desaparecer“. É preciso destruir o mundo exterior para salvar a alma.
A realidade, nos romances de Graciliano Ramos, não é deste mundo. É uma realidade diferente. Após ter lido Angústia até o fim, é preciso reler as primeiras páginas, para compreendê-las. É um mundo fechado em si mesmo. Que mundo é?
“Há nas minhas recordações estranhos hiatos. Fixaram-se coisas insignificantes. Depois um esquecimento quase completo” – confessa Luís da Silva em Angústia. E depois: “Como certos acontecimentos insignificantes tomam vulto, perturbam a gente! Vamos andando sem nada ver. O mundo é empastado e nevoento”. E acrescenta: “Não sei se com os outros se dá o mesmo. Comigo é assim”. É assim com todos nós outros, quando entramos no mundo empastado e nevoento, noturno, onde os romances de Graciliano Ramos se passam: no sonho. Os hiatos nas recordações, a carga de acontecimentos insignificantes com fortes afetos inexplicáveis, eis a própria “técnica do sonho”, no dizer de Freud. Álvaro Lins, no melhor artigo que se escreveu sobre Graciliano Ramos, observou agudamente a abstração do tempo – “Mas no tempo não havia horas”, cita o crítico -, e acrescenta: “Os outros personagens são projeções do personagem principal. Julião Tavares e Marina só existem para que Luís da Silva se atormente e cometa o seu crime. Tudo vem ao encontro do personagem principal – inclusive o instrumento do crime”. Estas palavras do crítico constituem a chave da obra do romancista: descrevem perfeitamente a nossa situação no sonho, em que tudo é criação do nosso próprio espírito. Explica-se assim o extremo egoísmo dos heróis de Graciliano Ramos: é o egoísmo daquele que sonha e para o qual, prisioneiro dum mundo irreal, só ele mesmo existe realmente. A mentalidade inteiramente amoral do sonho exclui, decerto, toda “generosidade”; mas a substitui por um sentimento mais vasto de identificação quase mística com as criaturas da própria imaginação, até a cachorrinha Baleia: Tat twam asi.
O extremo egoísmo do sonho engendra o motivo principal do romancista: cobiça de propriedade. Propriedade de terra, de mulher, em São Bernardo; aqui e em Angústia, a forma extrema desta cobiça, o ciúme. Por isso, nos romances de Graciliano Ramos, esses afetos ultrapassam toda medida; sugerem, ao lado dos afetos análogos na vida real, a impressão de sentimentos patológicos. E quando o autor considera os monstros da sua angústia de sonho, lança o seu grito mais elementar: “Dinheiro e propriedade dão-me sempre desejos violentos de mortandade e outras destruições”.
“Ai quando virá o anjo da destruição
p’ra acabar com a minha memória…”
(Murilo Mendes)
Todos os romances de Graciliano Ramos – e este é o sentido do seu experimentar – são tentativas de destruição; tentativas de “acabar com a minha memória”, tentativas de dissolver as recordações pelos “estranhos hiatos” dum sonho angustiado. Trata-se de saber que mundo de recordações se dissolvem assim.
A resposta é bastante difícil. Surge, ainda uma vez, o clichê do “sertanejo culto” e sugere aos críticos a ideia de que o romancista está furioso contra o ambiente selvagem do seu passado. Mas não é assim. Não é o sertão o culpado; Vidas Secas é o seu romance relativamente mais sereno, relativamente mais otimista. O culpado é – superficialmente visto, numa primeira aproximação – a cidade. O herói de Graciliano Ramos é o sertanejo desarraigado, levado do mundo primitivo, imóvel, para o mundo do movimento. É o vagabundo (“um pobre nordestino…”); e explica-se o seu ódio balzaquiano ao mundo burguês, que conseguiu a estabilidade relativa do comércio de secos e molhados. Esta vagabundagem é o aspecto sociológico do egoísmo do sonho quando se choca com a realidade. É o desejo violento do vagabundo de restabelecer-se na terra: “Como a cidade me afastara de meu avós!” Mas é apenas uma explicação em primeira aproximação pois Paulo Honório consegue o seu fim, e, contudo, é uma vida malograda. Por quê? Porque o seu criador quer mais do que terra, casa, dinheiro, mulher. Quer realmente voltar ao avós. Voltar à imobilidade, à estabilidade do mundo primitivo. E para atingir este fim, deve antes destruir o mundo da agitação angustiada, à qual está preso.
Os romances de Graciliano Ramos são experimentos para acabar com o sonho de angústia que é a nossa vida. Uma lenda budista conta dum homem que correu, ao sol do meio-dia, para fugir à sua sombra, que o angustiava; correu, correu, sempre perseguido pelo companheiro sinistro, até que encontrou o grande Sábio, que lhe disse: – “Não continues a fugir! Assenta-te sob esta árvore!” E como ele parou, a sombra desapareceu. A sombra sobre o mundo de Graciliano Ramos não é a sombra da árvore da salvação, mas a do edifício de nossa civilização artificial – cultura e analfabetismo letrados, sociedade, cidade, Estado, todas as autoridades temporais e espirituais, que ele convida ironicamente – no começo de São Bernardo – a colaborar na sua obra de destruição. Mas eles mostram-se incapazes de cometer o suicídio proposto. Entrincheiram-se na “dura realidade”, imposta a todas as criaturas do Demiurgo, e que se arroga todos os atributos da eternidade. O romancista, porém, não se conforma. Transforma esta vida real em sonho – pois do sonho, afinal, se acorda. Então, as disposições funestas do Demiurgo seriam revogadas, e o destruidor poderia dizer, com o Gide das Nouvelles Nourritures: “Tablre rase. J’ai tuout halayé. C’en est fait. Je me dresse nu sur la terre vierge, derrière le ciel à repeupler” [Tábua rasa. Tudo varri. Está feito. Ergo-me nu sobre a terra virgem, ante o céu por repovoar].
O fim é o estado primitivo do mundo – o céu repovoado. Então, a angústia já não assusta.
“Black is night’s cope;
But death will not appal
One who, past doubting all,
Waits in unhope.”
Foi a última sabedoria poética do romancista Thomas Hardy, versos duros, populares e clássicos ao mesmo tempo, rimados em sinal da concordância resignada com o mundo. É possível que o romancista Graciliano Ramos escreva também, um dia, tais versos, duros, populares e clássicos ao mesmo tempo, versos tradicionais, como o velho Hardy. Mas não serão rimados. Serão versos brancos. Pois a primeira rima de Graciliano Ramos já anunciaria o Fim do Mundo.