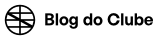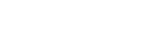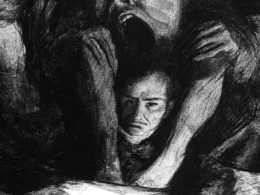Por Leandro Costa1
“No meio do caminho”, de Carlos Drummond de Andrade, é um dos textos mais conhecidos da obra do poeta mineiro e do Modernismo como um todo. O poema foi coligido no primeiro volume publicado por Drummond, Alguma Poesia, o qual, junto com Brejo das almas, integra a primeira fase de sua poesia, em que “o sentimento, os acontecimentos, o espetáculo material e espiritual do mundo são tratados como se o poeta se limitasse a registrá-los”2. No entanto, para além desse simples “registro”, há nesse poema uma verdadeira síntese da expressividade e da complexidade típicas da poesia moderna. E, como veremos mais adiante, também pode haver um envolvimento subjetivo que não é assim tão indiferente. Sob esta perspectiva, o poema encarna aquela definição poundiana segundo a qual “grande literatura é simplesmente linguagem carregada de significado até o máximo grau possível”.
Vejamos o texto:
No meio do caminho tinha uma pedra
Tinha uma pedra no meio do caminho
Tinha uma pedra
No meio do caminho tinha uma pedra
Nunca me esquecerei desse acontecimento
Na vida de minhas retinas tão fatigadas
Nunca me esquecerei que no meio do caminho
Tinha uma pedra
Tinha uma pedra no meio do caminho
No meio do caminho tinha uma pedra.3
Embora ele tenha um sentido que transcende o seu contexto de surgimento, para o compreendermos em toda a sua complexidade é preciso lê-lo a partir de sua relação com o movimento modernista.
O valor do Modernismo Brasileiro
Na atualidade, quando as vanguardas parecem ter perdido o seu vigor, é preciso relembrar a importância do Modernismo para a nossa vida cultural. De um lado, há aqueles que, apegados a um ideal negativamente reacionário de um obtuso retorno ao classicismo, desprezam o Modernismo de modo absoluto, como se fosse um movimento execrável em todos os seus aspectos.
De outro lado, há aqueles que idolatram o Modernismo de modo ingênuo, pois, baseados em uma espécie de progressismo estético e filosófico, encaram o movimento como a grande manifestação da ruptura, da subversão, do desapego a todo tipo de tradição e formalismo — como se a renovação trazida pelo Modernismo tivesse acontecido à revelia de seu diálogo com as expressões que o precederam. É óbvio que, adotadas assim de modo extremo, as duas perspectivas são errôneas, pois o Modernismo é um fenômeno complexo que não pode ser encarado por um viés reducionista.
Do ponto de vista estritamente literário, o movimento modernista brasileiro foi o ponto culminante de uma cultura que, até então, ainda estava em desenvolvimento — sobretudo quando levamos em conta a tese de Antonio Candido segundo a qual o nosso sistema literário só chegou à maturidade com o Romantismo. Assim, se o século XIX viu nascer os gênios de Machado de Assis, José de Alencar, Gonçalves Dias, Cruz e Souza, Castro Alves, Augusto dos Anjos, etc., foi no século XX que, entre centenas — e não mais dezenas — de outros grandes, a nossa literatura se consolidou com a obra de autores como Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Érico Veríssimo, Graciliano Ramos, Lúcio Cardoso, Manuel Bandeira, Murilo Mendes, Cecília Meireles, Jorge de Lima, João Cabral de Melo Neto e Carlos Drummond de Andrade. Pensando especificamente em nossa lírica, é pertinente relembrar o que disse José Guilherme Merquior em 1962: “Depois da grande obra dos modernistas, nada mais alterou verticalmente a poesia brasileira”4.
A recepção “polêmica” do poema
Antes de ser publicado no volume Alguma poesia, “No meio do caminho” apareceu na Revista de antropofagia, editada por Oswald de Andrade. Essa circunstância evidencia seu caráter de “ponta-de-lança”. A partir dela podemos constatar que não foi por um acaso que o texto se transformou em um paradigma do movimento modernista.
Em sua primeira publicação, o poema criou algumas polêmicas — as quais, hoje, quando o valor do Modernismo já está consolidado, são quase incompreensíveis para o leitor atual. Mas, para termos uma ideia de como o texto foi recebido, é interessante lembrarmos de um depoimento do próprio Drummond:
“Como podia eu imaginar que um texto insignificante, um jogo monótono, deliberadamente monótono, de palavras causasse tanta irritação, não só nos meios literários como ainda na esfera da administração [Drummond era funcionário público], envolvendo seu autor numa atmosfera de escárnio? Professores de português, ainda sem curso de Letras, geralmente bacharéis de formação literária convencional, espalhavam pelo Brasil inteiro, nos ginásios, que o Modernismo era uma piada ou uma loucura, e como prova liam o poeminha da pedra. Sucesso absoluto de galhofa. Imagem gravada na mente de milhares de garotos, que daí por diante assimilariam o conceito de modernismo-pedra-burrice-loucura”.5
A despeito da indiferença com a qual o próprio autor parece tratar o seu poema, o fato de ele ter sido objeto de tantas discussões justifica uma atenção mais profunda para com o texto, pois, além de ser um mero “jogo monótono”, ele é, como já dissemos acima, uma síntese de características da poesia moderna.
Texto modelar
Quando consideramos, por exemplo, as características da literatura modernista elencadas por Domício Proença Filho no livro Estilos de época na literatura, é possível observar que quase todas estão presentes em “No meio do caminho”.
A primeira dessas características é o hermetismo. Embora o poema seja simples, o modo como os seus significados são articulados não permite uma interpretação imediata dos seus significados. O leitor fica se perguntando “O que é essa pedra?”, “O que é esse caminho?”, “Por que a mesma informação é repetida tantas vezes?”. São inquietações que ecoam o que Mário de Andrade sentiu ao ler o poema pela primeira vez, pois o escritor paulista dizia que ele lhe irritava e lhe encantava ao mesmo tempo. Portanto, embora o texto apresente uma linguagem que é de fácil compreensão, o seu sentido profundo não é assim tão acessível.
O segundo aspecto modernista que nós encontramos no poema é a exploração do inconsciente. Destacada de qualquer contexto para além da vida do eu-lírico — o que para o leitor também é algo puramente abstrato —, a “pedra no meio do caminho” é apenas uma informação descontextualizada, que brota de repente como o fluxo inconsciente do pensamento. E ainda: a repetição obsessiva da descrição confere à situação apresentada um caráter ligeiramente “neurótico”.
A terceira característica essencialmente modernista que aparece no texto é a opção pelo verso livre. Os versos convencionais são baseados na contagem silábica. Já o verso livre é baseado na entonação, no ritmo, na velocidade da pronúncia com a qual ele é lido. Embora Drummond seja um poeta “pouco musical”, ele deu ao verso livre uma de suas expressões mais refinadas em nossa língua.
Outra característica do Modernismo presente no poema — e um dos elementos que mais escandalizaram as pessoas na época de sua publicação — é o aproveitamento da oralidade no texto literário. Antes da ascensão do movimento modernista, os dois estilos de época predominantes no Brasil eram o Simbolismo e o Parnasianismo. As formas de expressão consolidadas por estes estilos criaram o modelo do que as pessoas entendiam por boa literatura. Nesses dois estilos de época, os textos literários seguiam, rigorosamente, a norma culta da língua portuguesa. Portanto, escrever um poema com a expressão “tinha uma pedra” (um solecismo) em vez de “havia uma pedra” era algo escandaloso.
Na continuidade da entrevista citada acima, Drummond conta que, em seu ambiente de trabalho, no primeiro contato com alguém que até então não o conhecia pessoalmente, não era raro que a pessoa ficasse admirada por ele não ser “um débil mental”, pois essa era a impressão que o seu poema provocava nos leitores “desavisados”. No contexto em que o poema surgiu, para além de seu sentido hermético, essa simplicidade vocabular era a principal responsável por tal impressão.
Contudo, esta foi uma das grandes propostas — e conquistas — do Modernismo: aproximar a linguagem literária da “língua do povo”. Hoje, quando lembramos das obras-primas produzidas pelos grandes autores do movimento, percebemos que, de fato, o Modernismo mostrou que a literatura não precisa usar uma linguagem muito diferente da língua do povo para atingir um alto nível de expressão. A melhor poesia modernista abrasileirou ainda mais a língua que herdamos de Portugal, e conferiu uma vitalidade única a nossa literatura.
No caso de Drummond, ele foi um poeta que “renovou a linguagem e o endereço da nossa lírica. […] O humorista dos primeiros livros deu ao lirismo uma agudeza reflexiva e irônica que o virou pelo avesso”6.
Metalinguagem e intertextualidade
Em sintonia com a literatura moderna como um todo, “No meio do caminho” é um texto metalinguístico. Ou seja, sob a fatura do poema, não está apenas a expressão de um sentimento, de uma ideia, de uma célula musical, de um conjunto de imagens, de uma experiência individual que é “emprestada” ao eu-lírico; está todo um ideal de como a literatura deve ser, de como ela deve se expressar. É uma obra de arte que funciona como um discurso a respeito da própria arte.
Essa característica fica mais evidente na primeira geração modernista: ela está presente em outros textos “polêmicos” do movimento, como “Os sapos” e “Poética”, ambos de Manuel Bandeira. É uma característica que também viria a se tornar muito comum na poesia posterior ao Modernismo, ao ponto de se transformar em um expediente saturado — o que foi ironizado por Affonso Romano de Sant’anna em seu livro Poesia sobre Poesia, de 1975.
Além da metalinguagem, o poema também apresenta outra característica muito comum à literatura moderna: a intertextualidade. No caso de “No meio do caminho”, a riqueza de seu significado está, precisamente, no emprego desse recurso. Pois é o diálogo com outros textos — e tudo o que está implícito nas alusões — que faz o poema ir além do que parece ser apenas uma declaração de princípios estéticos.
O primeiro texto aludido é, justamente, um poema parnasiano. “Nel mezzo del camim…”, de Olavo Bilac:
Cheguei. Chegaste. Vinhas fatigada
e triste, e triste e fatigado eu vinha.
tinhas a alma de sonhos povoada,
E a alma povoada de sonhos eu tinha...
E paramos de súbito na estrada
da vida: longos anos, presa à minha
a tua mão, a vista deslumbrada
tive da luz que teu olhar continha.
Hoje segues de novo... Na partida
nem o pranto os teus olhos umedece,
nem te comove a dor da despedida.
E eu, solitário, volto a face, e tremo,
vendo o teu vulto que desaparece
na extrema curva do caminho extremo.7
As similaridades entre os textos são claras, a começar pelo título. Mas, antes de comentá-las, é importante dizer que, ao contrário do que um conhecimento superficial da nossa literatura deixa transparecer, Carlos Drummond nunca foi um crítico severo do Parnasianismo, do Simbolismo ou de qualquer outra “escola” ou estilo de época anterior a ele. Pelo contrário: o grande poeta mineiro amava a nossa poesia e a história da nossa literatura. Aí, embora a menção ao poema de Bilac seja feita de modo irônico — pois, como vimos, as escolhas formais de Drummond são como uma declaração de princípios da estética modernista —, ela também funciona como uma espécie de homenagem ao poeta parnasiano.
Na forma, os dois textos são obviamente distintos: um foi escrito em forma fixa; o outro em verso livre com estrofes variáveis. Um segue perfeitamente a norma culta da língua; o outro emprega um solecismo de modo proposital. Um segue uma lógica temporal extremamente organizada — com início, meio e fim; o outro não apresenta necessariamente uma ordem temporal, apenas repete a mesma imagem de modo obstinado. No entanto, para além de todas essas diferenças, há também algumas semelhanças notáveis: ambos seguem uma estrutura repetitiva — de ideias, de imagens e de palavras; ambos têm uma construção baseada em conceitos centrais englobados por palavras-chave como “caminho” e “vida”, que iluminam o sentido dos poemas como um todo (o parar “de súbito/na estrada da vida” assemelha-se ao fato de haver “uma pedra no meio caminho”); e ambos empregam referências à percepção visual para falar de um experiência abstrata: a “vista deslumbrada” no poema de Bilac, e as “retinas fatigadas” no de Drummond.
Hermetismo, exploração do inconsciente, emprego do verso livre, aproveitamento da oralidade, metalinguagem e intertextualidade: eis as características que fazem do poema uma síntese da poesia moderna. Mas, para além de tais características, qual é o sentido profundo do texto?
Outros caminhos
Para responder a esta pergunta, é interessante retomarmos o seu diálogo intertextual. Como vimos, “No meio do caminho” faz uma referência direta ao texto de Bilac. Esse, por sua vez, é uma referência direta à Divina Comédia, de Dante Alighieri.
Quando lemos os primeiros versos do grande poema de Dante, a associação se torna óbvia:
Da nossa vida, em meio da jornada,
achei-me numa selva tenebrosa,
tendo perdido a verdadeira estrada.
Dizer qual era é cousa tão penosa,
desta brava espessura a asperidade,
que a memória a relembra inda cuidosa.8
Aí, nesse contexto, o que significam o “meio da jornada” [mezzo del cammin], a “selva tenebrosa” [selva oscura] e a “verdadeira estrada” [la diritta via]?
O “meio da jornada” é, metaforicamente, a metade da vida. Em consonância com a tradição exegética medieval, que estabelecera a expectativa “ideal” de vida a partir do versículo 10 do salmo 90, Dante considerava o ciclo completo da vida como um período de 70 anos. O enredo do poema se passa durante a semana santa de 1300. Sabemos que o eu-lírico da Comédia é o próprio Dante. Como ele nasceu em 1265, ele tinha exatamente 35 anos em 1300. Mas, além dessa questão puramente cronológica, a metade da vida também pode ser considerada uma espécie de limiar: é quando o indivíduo geralmente sofre uma “crise” de consciência e começa a considerar quem ele é, tudo o que ele fez até o presente momento e o que ainda fará. Então, nesse contexto, este é o “meio da jornada”: o limiar entre quem se é e quem se pode ser.
A “selva tenebrosa”, por sua vez, é um período de ausência de consciência. É como se o eu-lírico estivesse dizendo que, antes de “entrar no Inferno”, ele passou por um período de muitos pecados. E a “verdadeira estrada” é o caminho da retidão moral, cujo extremo, na cosmologia adotada por Dante, é a santidade humana.
Confrontado com os destinos possíveis da salvação ou da condenação, o indivíduo sente a necessidade de refletir sobre os seus próprios atos. E, “no meio da jornada” da vida, essa necessidade se torna mais urgente. É muito provável que, aos 21 anos, Drummond tivesse pretendido transformar essa reflexão escatológica em algo muito mais banal: a “selva tenebrosa”, com sua cosmologia particular, transforma-se em uma mera “pedra”, um obstáculo talvez mais facilmente contornável (algo como um pequeno problema cotidiano ou uma culpa leve).
Porém, ainda que o tom do poema sugira essa interpretação — e muitos o têm lido dessa maneira — o fato de que o eu-lírico “nunca se esquecerá daquele acontecimento” sugere que esse obstáculo não é assim tão simples, nem tão banal. Além disso, se pensarmos na situação apresentada sob a perspectiva da frase da poeta Adélia Prado, que diz que “todas as pessoas do mundo só têm o próprio cotidiano”, nós perceberemos que é também com as pequenas coisas do cotidiano que podemos “construir” o nosso céu ou o nosso inferno — tanto em um sentido escatológico, de destino último, quanto no sentido mais imediato do nosso atual estado de espírito.
Um universo na pedra
Portanto, com “No meio do caminho” — assim como em todos os poemas reunidos no livro Alguma poesia —, Drummond estava mostrando que, naquele momento, era possível criar boa poesia com uma linguagem completamente nova. Mas, ao contrário do que pode parecer à primeira vista, e ao contrário do que pensaram todos aqueles que se escandalizaram com a simplicidade do poema, ele também estava mostrando que, ao destacar esses pequenos elementos e esse conjunto de imagens da realidade e reorganizá-los dentro dessa linguagem poética, eles se transformam em um símbolo com um grande poder sugestivo. E, pelas referências aludidas, vemos como o diálogo com outros textos aprofunda os seus significados.
É possível argumentar que essa intenção de profundidade não está no texto, mas, quando consideramos a consciência formal que sempre foi característica de Drummond — declarada explicitamente em um poema como “Procura da poesia”, de A rosa do povo —, chegamos à conclusão de que essa intenção existe e, como em um palimpsesto, o novo texto é escrito — e inscrito na cultura — sobre os textos que o precederam.
“Para carregar a linguagem de significado até o máximo grau possível, dispomos de três meios principais: 1. Projetar o objeto (fixo ou em movimento) na imaginação visual. 2. Produzir correlações emocionais por intermédio do som e do ritmo da fala. 3. Produzir ambos os efeitos estimulando as associações (intelectuais ou emocionais) que permaneceram na consciência do receptor em relação às palavras ou grupos de palavras efetivamente empregados”.9
A esses três modos de expressão poética Pound deus os nomes respectivos de fanopeia, melopeia e logopeia. A logopeia é predominante no poema de Drummond — pois a imagem da pedra é mais intelectual do que concreta —, mas também estão presentes, em menor grau, a fanopeia e, de modo quase mínimo, a melopeia. Portanto, temos em “No meio do caminho” um grande exemplo de “linguagem carregada de significado até o máximo grau possível”.
Afinal, se é possível “ver um universo em cada grão de areia”, e se “um único instante pode conter toda a eternidade”, também é possível que, sob uma pedra no meio do caminho, estejam os círculos do inferno — ou, inversamente, os degraus do paraíso.
- Leandro Costa é escritor e crítico de cinema. Publicou o volume de poemas Paisagem Absoluta (Mondrongo, 2020) e colabora com algumas publicações na internet. Atualmente, faz parte do time de curadoria do streaming Lumine TV e publica seus ensaios nos Pontos de Vista, sua página no Substack. ↩︎
- Antonio Candido, “Inquietudes na poesia de Drummond”. In: Vários escritos. Rio de janeiro: Ouro sobre azul, 2013. p. 67.
↩︎ - Carlos Drummond de Andrade, “No meio do caminho”. In: Nova Reunião 23 livros de poesia Vol. 1. Rio de Janeiro: Bestbolso, 2009. p. 22.
↩︎ - José Guilherme Merquior, “A poesia modernista”. In: Razão do poema. 3 ed. São Paulo, É Realizações: 2013. p. 40.
↩︎ - Carlos Drummond de Andrade, Tempo Vida Poesia, 3 ed. Rio de Janeiro, Record: 2008. p. 48
↩︎ - Merquior, op. cit., p. 43.
↩︎ - Olavo Bilac, “Nel Mezzo del Cammin…”. In: Poesias. Rio de Janeiro/Paris, Garnier: 1902. p. 126.
↩︎ - Dante Alighieri. A Divina Comédia. Tradução de José Pedro Xavier Pinheiro. Dois Irmãos/RS, Clube de Literatura Clássica: 2020. ↩︎
- Ezra Pound. ABC da literatura. 11ª Ed. São Paulo, Cultrix: 2006. p. 63.
↩︎