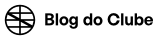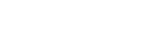Diego Grando 1
Cada livro envelhece à sua maneira, o que significa que suas leituras se renovam continuamente: o que era surpreendente pode se tornar previsível, o que era corriqueiro pode se mostrar exótico, o que era profundo pode parecer superficial, o que era trágico pode passar a soar cômico, o que era entretenimento pode ser fonte de informações sociais e históricas relevantes. E vice-versa.
O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas, publicado originalmente em folhetim no Journal des débats entre agosto de 1844 e janeiro 1846, talvez tenha um pouco disso tudo quando lido hoje, mais de 150 anos depois, em plena entrada do segundo quarto do século XXI: uma trama envolvente em torno de uma vingança obstinada, repleta de reviravoltas, disfarces e surpresas de todo tipo, que ao mesmo tempo propõe um retrato agudo da França do século XIX, com suas injustiças, seus abismos sociais, seu jogo de máscaras políticas, e uma reflexão sobre questões como identidade, justiça e destino.
Encarar as mais de mil páginas de O Conde de Monte Cristo hoje, portanto, é também navegar pelos mecanismos da ficção popular, os impasses morais da modernidade e as estratégias que continuam a ecoar nas narrativas contemporâneas — do romance às séries em streaming. Selecionei dois aspectos que considero essenciais para pensarmos essa obra – no tempo dela e no nosso tempo.
O que o narrador de O Conde de Monte Cristo e as séries de streaming têm em comum?
O narrador de O Conde de Monte Cristo talvez seja o elemento mais característico da estrutura do romance de folhetim. Onisciente, eloquente – às vezes em excesso – e muito longe de ser neutro, ele intervém na narrativa com comentários, digressões, antecipações e protelações calculadas. Afinal, em um longa história publicada em episódios semanais, prender a atenção do leitor a cada episódio é essencial – e a voz narrativa desempenha um papel central nessa engenharia, organizando os acontecimentos em cenas paralelas, fazendo cortes abruptos e dosando as informações. O narrador folhetinesco, enfim, é um manipulador do tempo e da atenção do público leitor – que, por sua vez, precisa entrar no jogo e, de certo modo, se deixar manipular.
Podemos ver esse jogo, a título de exemplo, em momentos em que o narrador revela informações supostamente já conhecidas pelo leitor. Destaco dois trechos, que não precisam de maior contextualização:
“Monte Cristo abriu a carta e a leu com indefinível expressão de felicidade; era a carta que nossos leitores conhecem, destinada à Julie e assinada por Simbad, o marujo.” (p. 540, grifo meu)2
“Aliás, ainda que não houvesse ferrolho, seria preciso ser São Pedro e ter como guia um anjo do céu para passar pela guarnição de que dispunham as catacumbas de São Sebastião e que acampava ao redor do seu chefe, o qual nossos leitores certamente reconheceram como o famoso Luigi Vampa.” (p. 1158, grifo meu)
Em ambos os trechos, o narrador, ao mesmo tempo que revela algo que o público já conhecia ou havia deduzido, faz menção a esse fato, reconhecendo o papel ativo do leitor na construção da história, ou seja, sua participação no jogo – ou, olhando de outro ângulo, o narrador revela para o público que ainda não havia deduzido o que ele devia ter deduzido, evitando, assim, futuros mal-entendidos, explicitando uma das regras do jogo e, de certo modo, estimulando-o jogar.
Há momentos, no entanto, menos sutis, nos quais o narrador simplesmente encarrega-se de explicar acontecimentos anteriores. Por exemplo, a cena em que Dantès, já na Ilha de Monte Cristo, simula um acidente como estratégia para ficar sozinho no local e apossar-se do tesouro. Primeiro, há o momento da queda:
“Mas no momento em que todos seguiam-no com os olhos na espécie de voo que ele executava e tomavam sua destreza por temeridade, como que para dar razão aos temores deles Edmond pisou em falso; viram-no cambalear no cume de um rochedo, dar um grito e desaparecer.” (p. 216)
Em seguida, Dantès é socorrido por seus companheiros contrabandistas, e logo consegue convencê-los a partirem e deixá-lo só na ilha, alegando preferir correr o risco de ali perecer a, em suas próprias palavras, “sofrer as dores inauditas que um só movimento” (p. 217) lhe causaria. Ao ver a embarcação desaparecer no horizonte, no entanto, a surpresa:
“Pois então Dantès levantou-se mais versátil e ligeiro que as cabras que pulavam entre as murtas e lentisqueiras sobre os rochedos selvagens, pegou com uma mão o fuzil, a picareta com a outra, e correu até a rocha onde acabavam os talhos que ele notara sobre as rochas.” (p. 218)
No capítulo seguinte, então, o narrador não deixa dúvidas sobre os acontecimentos, como forma não só de relembrar o ocorrido, mas também de verificar e garantir a compreensão do leitor:
“Então desceu a passo rápido mas cheio de prudência: temia muito que lhe acontecesse um acidente semelhante ao que havia tão hábil e felizmente simulado.” (p. 219, grifo meu)
Ao público de hoje, habituado a estruturas mais sutis ou fragmentadas proporcionadas pelo romance do século XX e pelas narrativas audiovisuais, alguns desses recursos podem soar datados ou ingênuos e, eventualmente, exageradamente explicativos ou didáticos. Contudo, muitos desses mesmos recursos seguem atualíssimos: a capacidade de criar expectativa, de estruturar a narrativa como uma sucessão de revelações, afinal, é o que aproxima o romance de folhetim das série contemporâneas.
Uma obra que une história e aventura
Tanto o romance histórico quanto o romance de aventura nascem no despertar do século XIX: o romance histórico caracteriza-se pela mescla de personagens e enredos ficcionais a personagens e acontecimentos históricos, com atenção especial a contextos políticos e sociais; já o romance de aventuras dá ênfase à ação, marcada pelo suspense e pelas reviravoltas, centrada em um herói sempre em movimento. Enquanto o primeiro prima por uma preocupação quase documental do passado, o segundo dá asas à imaginação, a cenários por vezes exóticos, mais distantes da realidade do público leitor.
Em O Conde de Monte Cristo, Dumas procura articula essas duas vertentes: enquanto a trajetória pessoal de Dantès – seus disfarces, sua jornada por diferentes espaços geográficos – em busca de justiça e vingança serve como motor de uma narrativa de aventuras, o pano de fundo histórico – o Governo dos Cem Dias, a Segunda Restauração, a Monarquia de Julho, a ascensão e consolidação da burguesia na França – garante densidade e verossimilhança. Dumas, portanto, não se limita a documentar a História, mas se preocupa em encená-la: a queda de Napoleão, assim, está intimamente articulada com a prisão de Dantès; a restauração da monarquia influencia os jogos de poder entre Villefort, Danglars e outros personagens.
Ao leitor brasileiro de hoje, esse agitado pano de fundo político e social da França da primeira metade do século XIX – que para o leitor francês da época era absolutamente familiar – pode aparecer apenas como um cenário relativamente vago, algo como uma “novela de época”, sem suas implicações mais profundas. Desse modo, as motivações fundamentais de personagens como Villefort, Danglars e Fernand podem acabar sendo percebidas mais como motivações individuais do que como manifestações de grandes transformações históricas de um lugar e uma época específicos.
Isso, que fique claro, não significa um problema: é próprio das grandes obras, afinal, ressignificar-se ao longo do tempo, descolando-se das suas primeiras leituras. Assim, junto a uma história marcada por uma sucessão de injustiças, fugas, múltiplas identidades e vinganças, o leitor do século XXI talvez encontre com mais facilidade em Dantès um símbolo de ascensão, queda e recomeço, em Villefort um símbolo da hipocrisia do sistema judiciário, em Danglars uma caricatura da especulação financeira. Além, é claro, de diversão e aventura.
- Diego Grando é poeta, tradutor e professor de Literatura, com pesquisas na área de Escrita Criativa e Ensino de Literatura. Com seu livro Spoilers, recebeu o Prêmio Açorianos de Literatura de 2018 na categoria Poesia. Desde 2012, integra o elenco do Sarau Elétrico. ↩︎
- Todas as citações do livro foram retiradas da mesma edição:
DUMAS, Alexandre. O Conde de Monte Cristo. Dois Irmãos, RS: Clube de Literatura Clássica, 2025. ↩︎